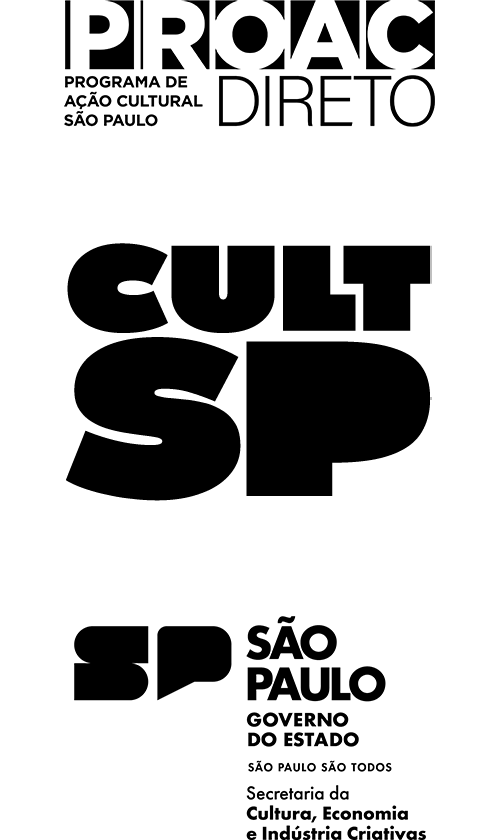Paulo Betti: Aquele momento foi um momento bastante decisivo na minha vida profissional, né, porque eu tinha acabado de sair da Escola de Arte Dramática, fazia dois anos que estava, vamos dizer assim, vivendo a minha vida profissional de um ator, de uma pessoa de teatro em São Paulo, quando fui contratado pela Unicamp, né?
Carla: Maravilha!
Paulo Betti: Aí, não sei, foi bom porque nós ganhamos uma segurança monetária muito bacana e a continuidade de um trabalho artístico, uma proposta artística. Isso foi muito sábio da parte do Celso Nunes. O Celso Nunes, ele é o nosso mentor absoluto, de tudo isso. O empurrão que ele deu em todos nós foi uma coisa absolutamente decisiva. Eu gostaria que fizessem isso pro meu filho, quando ele entrasse numa escola. E, que tenha esse mesmo tipo de empenho, de acompanhamento, de entrega artística e tudo o que o Celso teve conosco na EAD.
Mônica: Quando que você foi pra lá, Paulo? Pra EAD.
Paulo Betti: Eu comecei fazendo teatro amador, havia um movimento muito forte de teatro amador no Brasil inteiro. Sorocaba tinha excelentes grupos de teatro amador, montando Shakespeare, montando Ariano Suassuna, montando Plauto… Eles eram muito bons, tinha diversos grupos em todo o estado de São Paulo. E tinha um grupo que eu fiz parte e ganhei um Prêmio Governador do Estado. E aí eu falei: “acho que é isso”, eu falei “eu tenho que ser ator mesmo… acho que tenho que ir fazer a Escola de Arte Dramática”, porque o prêmio Governador do Estado dava direito a uma bolsa de estudos. Era uma bolsa de estudos se você conseguisse entrar numa escola em São Paulo, e dava pra pagar o aluguel, era o dinheiro pra pagar uma kitnet. E pô, era excelente, né? Eu trabalhava…
Mônica: Qual era a sua idade?
Paulo Betti: Eu estava com vinte anos. Dezenove ou vinte anos. Isso foi em 72 e eu nasci em 52. Vinte anos. Eu fui também muito influenciado pela Eliane, estávamos começando o nosso namoro, Eliane e eu, que nos conhecemos nessa peça, no teatro amador em Sorocaba. Estávamos completamente apaixonados, e a Eliane tinha um desejo muito grande de ir pra São Paulo. Eliane era uma moça moderna, ela fumava (gesto), ela era toda Sartreana…
Carla: E linda, né?
Paulo Betti: Simone de Beauvoir… E deslumbrante! Aqueles olhos da Eliane… enfim, inteligente… nós nos apaixonamos e vivemos 25 anos juntos. E temos duas filhas, tal. Mas, aí nós fomos fazer o teste na Escola de Arte Dramática. Tivemos a sorte de passar. Foi um exame excepcional, talvez tenha sido o único, porque foi altamente experimental. O Celso Nunes comandou o vestibular, onde setecentas pessoas disputavam vinte vagas. Setecentas pessoas disputavam vinte vagas! Olha que coisa!
Carla: Loucura, né?
Paulo Betti: Uma loucura! E todos nós passamos um mês divididos. Primeiro teve um exame escrito e um exame, vamos dizer, de uma cena, e os aprovados ficaram um mês sob teste, numa espécie de laboratório intensivo de um mês. Então, dividiram esses sessenta, que foram escolhidos dos setecentos. Foram escolhidos sessenta e formou-se três grupos de vinte. E esses três de vinte disputaram as vinte vagas… sessenta pessoas. Então foi… foi uma loucura, porque, assim, a intensidade dos exercícios, dos laboratórios, porque estávamos em pleno momento do teatro físico, do teatro do corpo. O Celso tinha uma forte influência do Grotowski. O Celso tinha a mesma influência que o Carlos Alberto Soffredini, que era também um dos meus grandes ídolos do teatro amador na época, Carlos Alberto Soffredini, de Santos, do teatro amador de Santos. Tinha um teatro amador, Santos, que era, assim, arrasador! Eles iam pros festivais levando Sófocles; aí eles faziam, assim, no pôr-do-sol, ao ar livre… a gente nunca tinha visto aquilo, né? Era bonito por causa disso, porque você promove uma integração. O grupo de Santos era totalmente liberado, eles dançavam, eles cantavam músicas obscenas e eles ficavam nus em cena. (risos)
Carla: Era um acontecimento né, Paulo?
Paulo Betti: É… uma chacoalhada, uma chacoalhada. Aí, decidimos ir pra São Paulo e fomos pra São Paulo.
Carla: Agora, deixa eu voltar um pouquinho porque eu acho que é importante a gente falar um pouco do comecinho, antes de você conhecer a Eliane. Você, esse ano, você fez um espetáculo sobre você, né? Você escreveu, dirigiu, atuou e tal. Você é o 14º filho de uma família de quatorze irmãos. A história é muito bonita, muito bonita! Eu queria que você falasse como é que você encontrou o teatro e o que a sua família achou disso na época?
Paulo Betti: Olha, fico agradecido de você se referir a autobiografia. Faz 5 anos que eu tô fazendo esse monólogo. Demorou pra eu me conscientizar ou assumir que eu escrevia. Isso foi uma coisa que eu descobri há cinco anos, fazendo esse monólogo, porque eu ia fazer um monólogo de um amigo meu, lá de Sorocaba também, um autor chamado José Rubens Siqueira, grande autor e grande tradutor, um grande homem de teatro e diretor de cinema… enfim, ele é um pouquinho mais velho que eu e ele falou “pô, eu tenho uma peça pra você, eu tenho um monólogo pra você”. Eu queria um monólogo pra poder viajar com mais facilidade, pra fazer palestras, pra fazer debates e coisas que eu adoro fazer. Então, aí, esse texto que ele me escreveu, eu inscrevi nas “leis”, fui atrás de patrocínio mas, na hora de montar, uma coisa muito forte aflorou, que era uma questão de classe social. Aí, o personagem que era eu, que era um homem que ia morrer e que começava a falar do significado da morte em outras culturas, entre os hindus, entre os japoneses e como que era a morte… Era um monólogo muito bem escrito! Pra você ver, olha o título: Morrer não é nenhuma tragédia. É um grande título! Olha, essa peça do Zé, talvez eu volte lá e faça agora. Mas tinha uma coisa assim em que o personagem afirmava, fazia umas piadas, e dizia que a mãe dele tinha uma empregada doméstica. Aí, isso me incomodava na hora de falar, aí eu falei assim: “não, eu vou escrever uma outra peça, onde vai ser… onde a minha mãe será uma empregada doméstica, porque é o que ela era”. Daí eu decidi contar a história da minha mãe, a história do meu pai, a história do meu avô e a história da minha avó, e dos meus irmãos e de um ambiente que vai, vamos dizer assim, da infância à adolescência, num lugar da memória que tá entre a cidade e a roça, que tá passando do universo rural para o universo urbano, e com esse ingrediente da minha mãe ter tido muitos filhos, e do meu avô também ter uma situação peculiar, que é um pouco a história da imigração italiana. Meus avós chegando da Itália e tal, e eles viviam com a gente, e minha avó é um personagem forte da peça. Minha avó… um dos melhores personagens da peça é minha avó.
Carla: O nome da sua cidade é muito bonito, né? Que quer dizer… O que quer dizer? Cidade coração? É Rafard? É assim que se pronuncia?
Paulo Betti: Que lindo! É cidade coração, é Rafard.
Carla: Cidade coração, achei tão bonito!
Paulo Betti: É bem pertinho de Campinas, Rafard. Sabe onde é Capivari? Então, Rafard é colado em Capivari. Eles se desdobraram, mas era a mesma cidade. É a terra da Tarsila do Amaral. É…
Mônica: É… Eu vi a peça online, Paulo.
Paulo Betti: Ah! Que alegria! Muito obrigado.
Mônica: Super bonito, muito bonito. Tá muito bonita a função das projeções, do texto, da maneira como você conduziu… Você fez na sua casa mesmo, né?
Paulo Betti: Aqui! Na sala. Foi demais! Eu não gravei, que loucura! O Sesc pediu se podia gravar, se podia ficar na rede deles e eu falei “Não!” (fala imitando um ranzinza). Olha que burro! (risos) Aí, eles não gravaram!
Mônica: Ah, que pena!
Paulo Betti: Enfim, teatro é assim, né? Mesmo que seja teatro virtual.
Mônica: Deixa eu aproveitar, antes de passar pra outro tema… você está escrevendo coisas novas, já que você descobriu a escrita?
Paulo Betti: Então, pra explicar como que foi essa descoberta da escrita… durante 25 anos eu tive uma coluna semanal no jornal O Cruzeiro do Sul, de Sorocaba. Eu escrevia todos os domingos. Então, na quinta-feira eu entregava a coluna, que era lindamente ilustrada, e durante 25 anos eu nunca falhei, eu escrevia essa coluna. Pô, então era alguma coisa, alguma prática de escrita, né? Aí, quando eu vi que eu não queria fazer a peça que eu ia fazer do meu amigo, que eu queria fazer eu mesmo, eu decidi escrevê-la. Aí eu fui ver, estava tudo escrito, veio tudo escrito. Eu escrevi pra todo lado… em caderno… a vida inteira eu tomei notas das circunstâncias excepcionais da minha vida, da minha infância e da minha adolescência. A escrita serviu pra me salvar, terapeuticamente falando, porque, para digerir as questões que eu, menino, estava observando, participando e tentando colaborar já na adolescência, pra ajudar a resolver as questões e não atrapalhar ali, né, eu tinha que ser o cara… porque a minha família, de uma certa maneira… eu nasci dez anos depois de meu irmão mais novo. Então, esses dez anos, quando eu apareci, imagina, minha mãe ficou dez anos sem dar à luz e de repente aparece um garotinho, e minhas irmãs eram adolescentes, então eu fui muito paparicado, né? Fui muito, muito mimado e tudo e, ao mesmo tempo, isso me deu muita responsabilidade, era como se eles depositassem em mim a, a, a… enfim, parece que eles sabiam que eu ia escrever a autobiografia autorizada e que eles queriam defender a aparição deles ali, e todos eles querendo aparecer bem na peça (risos). Eu tô brincando, mas eu me senti meio responsável por escrever. Aí, escrevi e, depois de ter escrito, começou a me dar esse gosto pela escrita. Agora, também pela pandemia, né, eu tô tendo que organizar minha biblioteca, o tempo todo organizando os livros, arrumando arquivos… é uma loucura, né? A gente fica fuçando, né?
Carla: Em casa a gente não para né, Paulo? Não para, arruma coisa pra fazer. Olha, eu tenho uma teoria, por observação, que toda raspa de tacho é especial, viu Paulo? É uma teoria muito particular. Vamos voltar lá pro Pessoal do Victor, a gente estava lá na EAD, né? Na EAD vocês acabam formando o grupo que chama Pessoal do Victor. Então eu queria que você falasse como é que foi essa formação, por que vocês formaram o grupo e a importância que esse grupo teve no teatro paulista, brasileiro. As meninas me lembraram, pra você não esquecer de falar da Na Carrêra do Divino, que foi um espetáculo marcante.
Paulo Betti: É, Na Carrêra do Divino é do Soffredini, né, Carlos Alberto Soffredini. O Soffredini me deu um curso quando eu estava no teatro amador em Sorocaba, esse movimento do teatro amador era incrível! Era a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, dentro do regime militar, mas funcionava, tinha bolsas (de estudo), as pessoas… por exemplo, o Soffredini, eu fiz o curso do Soffredini, certamente contratado pela Secretaria de Cultura. Era gratuito! E o Soffredini tinha um mantra que era assim: “não se poupe, não se poupe, não se poupe”. Não se poupe significa que você nunca fica satisfeito com nada do que você tá fazendo, ou fez! É muito interessante esse mantra dele. E com esse ímpeto nós fizemos os exames da EAD. Imagina! Todo mundo histérico e querendo fazer os laboratórios mais incríveis, e querendo sentir tudo e transcender, e dançar e, né, porque é isso aí que é a nossa profissão! Aí, passamos, Eliane e eu; fizemos os três anos da escola sendo acompanhados o tempo todo por aulas do Celso (Nunes). O Celso nos acompanhou, o grupo todo que entrou ali, de perto, ele deu aulas pra gente os três anos seguidos e, fora isso, todas as matérias e aulas especiais… Eliane e eu entramos logo nas peças do segundo ano. Quando a gente entrou no primeiro ano, a gente já se meteu nas peças do segundo ano fazendo pontas, participações… Isso foi muito legal, tanto que nós fizemos seis peças no período do curso. Seis montagens! O curso propiciava quatro, mas Eliane e eu fizemos seis, porque aproveitamos duas peças do segundo ano, fazendo pontas e participações nos espetáculos do segundo ano. Aí, quando nós nos formamos, o Celso reservou pra ele a direção da peça final nossa de formatura, que era Victor ou as Crianças no Poder, uma peça de um francês (Roger Vitrac), de um teatro muito pouco divulgado no Brasil chamado surreal, surreal… Teatro Surrealista, dentro dessa escola do Surrealismo. Era uma peça muito boa, o Celso fez uma direção brilhante! O Marcio Tadeu, que era colega, estava se formando… o Marcio Tadeu era dos talentos maiores da nossa turma, ele se formou ao mesmo tempo… ele estudava na Escola de Arquitetura e Urbanismo, e na EAD, à noite. Então, imagina, o Marcio sabia desenhar, o Marcio fazia cenário, o Marcio fazia figurino, o Marcio Tadeu é, na nossa turma, o grande destaque, vamos dizer assim, do teatro, do entendimento, da ousadia e da força criativa… era Marcio Tadeu! Não sei se vocês entrevistaram ele…
Carla: Vamos entrevistar. Mas, ele foi nosso professor, né, Paulo. Ele é um doce de pessoa, um doce!
Paulo Betti: Vocês têm sorte! E o Márcio, além de tudo, ficou muito bem no Victor, no papel do personagem principal, ele fazia um garoto. Casou muito aquele papel com o jeito do Marcio. O Marcio fez o cenário surrealista, nós todos pintamos as paredes, passamos dias e noites pintando… foi uma euforia! Fizemos o Victor e o Victor fez muito sucesso, foi um sucesso! Aí, nós saímos. Na secretaria da Escola de Arte Dramática, um de nós descobriu uma carta, ou a secretária, D. Nilse, apresentou uma… “olha, tem um convite aqui pra um festival de teatro, vocês não querem ir?” Era um festival na Itália, nós fomos pra um festival na Itália! Enfim, voltamos e retomamos o Pessoal do Victor, que recebeu excelentes críticas e prêmios por Victor ou as Crianças no Poder e começamos a ser chamados de “O Pessoal do Victor”. “Ah, quem são eles? Ah, o pessoal lá do Victor”, que fazia a peça do Victor, né? E aí, o Celso Nunes, dois anos depois de nos formarmos com o “Victor”, em 77 (1977) o Celso Nunes, que era o nosso diretor, que tinha dirigido a única peça que nós tínhamos feito até então… acho que eu tinha feito também… eu tinha dirigido Cerimônia para um Negro Assassinado (em 1977) sim, eu acho que eu já tinha dirigido Cerimônia para um Negro Assassinado (de Fernando Arrabal). Daí o Celso nos convidou, a todos do grupo, pra irmos pra Unicamp. E aí, o que eu soube e o que ele nos contou, o que nós soubemos, é que havia disposição da Universidade de contratar três mestres, ou, sei lá, três doutores, mas que eles podiam ao invés de fazer isso, com esse valor, contratar todo o nosso grupo numa outra categoria, que seria uma MS1. Seria o primeiro nível de uma possível carreira universitária e tal. E aí nós fomos contratados, e foi uma coisa muito bacana, porque nós tínhamos toda a disponibilidade de dar as aulas, uma garra tremenda pra dar as aulas e também fazer os nossos trabalhos com os estudantes e também o trabalho do grupo. E daí, nisso, nós fizemos Na Carrêra do Divino, debaixo do guarda-chuva da Universidade de Campinas, todos nós contratados na categoria mais… nível mais baixinho, mas dava pra cada um… eu tinha um fusca. A Eliane e eu íamos pra Campinas, a gente não morava em Campinas, a gente ia pela recém inaugurada Rodovia dos Bandeirantes. Ia Eliane e eu no Fusca, Marcio, Marcília e Reinaldo atrás, sendo que o Marcio era bem grande, né? E imagina o coitado, ele estava meio apertado… mas eles ajudavam a pagar a gasolina, eles rachavam comigo a gasolina. Então, veja bem, era muito bacana ter essa possibilidade, né, você ter um contrato numa universidade estadual, com a possibilidade de uma estabilidade logo no início da vida, né? É bom, né?
Carla: Deixa eu aproveitar e perguntar como é que era essa atuação de vocês na Unicamp? Você dava que curso? Como é que vocês combinavam isso? Qual era o apoio que a Unicamp dava pra vocês?
Paulo Betti: Olha… A gente tinha reuniões semanais com o Celso, onde a gente tratava das ementas do que seria o curso, porque, quando nós fomos, não havia nem espaço físico pra gente…
Carla: Conta isso, que é importantíssimo.
Paulo Betti: É, isso era o princípio, que nós elogiávamos muito, inclusive, da administração da Unicamp, que acho que vinha do professor Zefferino Vaz e, também, do Rogério Cezar de Cerqueira Leite, que foi um grande parceiro nosso na formação do IA e, principalmente, do nosso curso de teatro. Estivemos sempre muito próximos do prof. Rogério Cezar de Cerqueira Leite, que tinha uma compreensão muito… eles pensaram assim: “vamos contratar esse pessoal, pô! Por que mais três professores que vão ficar aqui teorizando? Vamos botar esses caras aí, né, pra sujar o calcanhar aí!” Era uma terra vermelha, tinha uma terra vermelha brava! As árvores de trás, ainda não tinha, era tudo muda. Eram mudas de árvores (risos). E aqueles barracões imensos. A gente ficava num lá no alto, junto com a professora Marlyse Meyer, que era maravilhosa! Uma professora maravilhosa! Folclore! Melodrama! Especialista em Melodrama, um gênio! Marlyse Meyer! Talvez tenha falado algum nome aí anteriormente errado. Mas Marlyse Meyer era um gênio! A gente convivia com o Almeida Prado, grande compositor erudito brasileiro do século 20, século 21. Almeida Prado! A gente ficava lá, conversando, ele falava das Cartas Celestes, a gente falava da peça que a gente ia montar… Olha só! Que vida! Tinha a professora Marília Andrade também, que era ligada à dança. Mas, a Marília eu vim a conhecê-la um pouco melhor mais adiante, quando ela me chamou pra fazer uma participação num projeto que ela tinha pra Universidade de Columbia. Mas, enfim, a gente quando foi pra Unicamp, a gente formulava as ementas e procurava estruturar o curso baseado na discussão das dificuldades e das carências que a gente tinha sentido na Escola de Arte Dramática, então a gente queria compensar isso, tanto que o curso da Unicamp é um dos que tem maior hora-aula, sei lá o quê. Das 8h da manhã às 6h da tarde, não é?
Carla: É, agora é. Agora é integral.
Paulo Betti: É, é barra pesada, né?
Carla: Mas, é uma delícia!
Paulo Betti: É, eu acho, mas eu gostava da ideia de ser noturno porque, por exemplo, eu não poderia fazer esse curso, eu não teria grana pra… tinha que trabalhar junto…
Mônica: Esse ano abriu o noturno, Paulo.
Paulo Betti: Boa! Boa! Ah, que bela notícia! Olha, parabéns! Porque eu sou… por exemplo, eu sou defensor dessa possibilidade do sujeito… o cara vai pra capital, ele tem que trabalhar, depois, de noite, ele vai pra escola. Foi o que eu fiz durante três anos, eu trabalhei…
Mônica: O curso já está também com alunos indígenas e negros, com grande (inaudível).
Paulo Betti: (gesto de vitória com os braços) Outra grande notícia! Grande notícia!
Carla: A Unicamp tem um vestibular, Paulo, exclusivo pros indígenas.
Paulo Betti: É mesmo, é? Mas eles acabam chegando como atores?
Carla: Eu não sei. Você sabe, Mônica?
Mônica: Não, esse ano que abriu isso tudo na Artes Cênicas, né? Eles abriram o curso noturno, no período noturno, e a Verônica me falou que eles já estavam com alunos indígenas, e que isso tava sendo uma coisa maravilhosa.
Paulo Betti: Incrível! Incrível!
Carla: Eu faço um parênteses aqui, que eu lembrei que eu ouvi o Caetano Veloso falar, eu não sabia disso, da onde vinha essa puxação de R da gente, de falar “porrrta”, que tem um cara, não lembro o nome dele, é um estudioso que detectou que vem dos índios isso. Esse tipo de “porrrta”. Agora eu fiquei orgulhosíssima porque… claro, em cena a gente não fala, mas eu sou que nem a Vera Holtz, eu falo “ê pelamorrr de deus”… a gente fala, né?
Paulo Betti: Você tá certa, eu ouvi ele falar também. É muito interessante! Mas eu acho que agora é o momento da gente falar dos índios, né? É importante isso. Você sabe que nós fizemos uma montagem na Unicamp, com o Celso (Nunes) dirigindo, Os Iks. Os Iks era sobre o espírito indígena. Olha, não se podia falar da questão indígena no teatro. Era objeto de segurança nacional. Era proibido falar sobre esse assunto! Tanto que a gente fez Os Iks por causa disso. O nosso desejo era falar de uma tribo brasileira! Por que a gente ia falar sobre uma tribo africana? Claro, tinha uma dramaturgia bacana, era muito interessante, mas a gente preferia falar sobre os índios brasileiros, então a gente usou desse artifício pra poder falar da questão indígena. É interessante.
Carla: Paulo, aproveitando o gancho, e é uma das perguntas aqui… Como é que vocês foram recebidos na Unicamp? Tinha essa total liberdade lá dentro? Ou, como o Brasil estava passando pelo momento da abertura, mas ainda era uma ditadura, então tinham dois mundos, né? Vocês viviam fora da universidade e dentro da universidade. Como é que era dentro? Era liberdade total ou tinha cerceamento?
Paulo Betti: Na Unicamp, não… bom, na Unicamp a gente foi em 1977, a ditadura acabou em 85, né? Então, foi… todo período da Unicamp meu foi debaixo… Não, não senti muita pressão ali, não. Já era um momento… Na EAD, sim. Na EAD a gente percebia as revistas. Toda noite, quando a gente chegava no Campus, tinha que passar a revista… pá-pá-pá… (gesto de apalpar)
Carla: Apalpar?
Paulo Betti: Enfim, lá na Unicamp, não. E a gente teve uma liberdade muito bacana pra fazer as peças que a gente quis. A gente se estruturou dentro do curso que a gente queria montar. Quando acabou montando o curso oficialmente, sendo reconhecido pelo MEC, eu já tinha saído.
Carla: Você ficou quanto tempo na Unicamp?
Paulo Betti: Eu fiquei de 1977 a 1984, sendo que teve um momento, nos dois últimos anos, que eu suspendi meu contrato. Eu fui convidado pra fazer uma novela na televisão e então, eu pedi licença sem remuneração, porque eu não sabia se ia dar certo. Falei “pô, vai que… pô, largar esse meu emprego abençoado aqui na Unicamp, com minha carteirinha de saúde, com meu crachazinho da Unicamp, o meu Fusquinha…” Eu falei assim “meu deus, eu vou largar tudo isso pra fazer uma novela e se não dá certo?” Aí, eu mantive sem receber remuneração, e o Celso me ligou e perguntou se eu ia ficar, se eu não ia ficar, porque ele queria contratar alguém. Eu abri mão, naturalmente. Achei que ia dar pé na TV e, aí o Celso contratou o Marcio Aurelio. O querido Marcio Aurelio!
Carla: Deixa eu falar uma coisa: a Mônica e a Ana Célia são da primeira turma.
Mônica: Eu ia falar isso: nós somos da primeira turma, eu e a Ana Célia. E a Carla é da segunda.
Paulo Betti: O Gabriel também fazia?
Mônica: O Gabriel acho que é da quinta ou sexta turma. Aninha, faz sua pergunta aí pro Paulo.
Ana Célia: Paulo, você tocou numa questão que é: vocês foram contratados no lugar de três professores acadêmicos, né? Eu queria questionar isso… Vocês, ali, eram um grupo de artistas produzindo arte, envolvidos completamente. E davam aulas para pessoas superinteressadas, mas, dessa forma, de oficinas. A minha questão é: Você acha que é importante o artista, essa mescla do artista/professor? É sobre isso, sobre o artista estar dando aulas, conduzindo outras pessoas… se isso é importante, se modifica o aprendizado? A gente teve ali na Unicamp a oportunidade de ter aula com outras pessoas que vinham do mundo da arte, não eram necessariamente acadêmicos. A gente teve aula com a Raquel Trindade, de Danças Brasileiras; a gente teve aula com o Monteiro Junior, de Circo, que era um cara de circo mesmo. Então, isso determina mesmo o caráter do curso, né? Eu queria que você falasse sobre essa experiência de vocês como artistas dando aulas e o que isso significou na construção do curso.
Paulo Betti: Então, eu achei genial a ideia deles, porque nós começamos a fazer peças debaixo das árvores. A gente começou a ensaiar, não tinha espaço físico, então a gente ia pra debaixo de uma árvore, ficava todo mundo sentado, falando de teatro, ensaiando peças no Ciclo Básico, a gente fazia as encenações lá, no Ciclo Básico. Os estudantes tudo sujo, nunca vi, o calcanhar sujo, aquela poeira… E a gente fazia peças e a gente via as dificuldades que … os desejos deles… Eu dirigi duas peças nesse período. Fora os cursos, eu dirigi duas peças. Basicamente fazia um curso, depois, no final, fazia uma peça como resultado do curso. Eu sou meio impaciente pra trabalhar com estudantes que não sejam vocacionados, né? Assim, se você dá aula numa escola de teatro, todos os alunos fizeram vestibular pra uma escola de teatro. Mas até a escola existir oficialmente, nesses sete ou oito anos, a gente trabalhou dando aulas pra pessoas que vinham do departamento de Biologia, de Letras, de não sei o quê… e às vezes ele não chega na hora, eles não tinham nota, ponto… não tinha nenhum poder nosso como professores pra exigir desempenho deles. Então, dentro dos meus padrões, vamos dizer assim, meio militares… que eu sou meio militarizado, assim num sentido… muito “não se poupe” do Soffredini, “não se poupe”, “não se poupe”! Eu não tinha a grande satisfação da minha vida em dirigir (faz gesto de colocar aspas) “amadores”, entendeu? Mas, enfim, tô falando desse ponto de vista. Mas essa experiência, e esse tempo que nós maturamos o curso ali, estruturamos o curso dentro da nossa necessidade, e da nossa convivência com Benito Juarez, que tinha uma forma de vestibular diferenciado… nós tínhamos passado também por uma forma de vestibular diferenciado, valorizando muito o aspecto vocacional, né? Se o cara tem uma grande habilidade, toca pra caramba, o que interessa se ele não é tão bom assim em matemática, né? Tem que ter um peso específico. Se ele quer ser músico e vai fazer uma faculdade de música, pô, diz a vocação, tem que ir, né? Então, isso eram umas discussões que a gente levava, hoje eu digo: pra mim, foi muito importante! Pra mim foi muito importante! Foi assim: me deram toda a minha base nessa convivência com o Celso, saindo da Escola de Arte Dramática, que já tinha sido algo assim maravilhoso pra gente, né? Imagina que experiência: fazer seis peças!… a gente fez Emílio de Biasi, Jonas Bloch, Antônio Mercado… puxa vida! Silvio Zilber, Miriam Muniz… nós tivemos contato com todo mundo ali… Fernando Peixoto! E nos dirigindo! Eugênio Kusnet! E daí, todo esse fervor nosso, dois anos depois de que a gente sai da Escola de Arte Dramática, a gente vai pra Unicamp! Tô dizendo, a gente ia de Fusca, nós cinco, todos juntos.
Mônica: A experiência continuou, né?
Paulo Betti: Sim! E nos deu uma força! Eu comprei um terreno, olha só, eu e a Eliane compramos um terreninho! Imagina, a gente era MS1! Eu não sei o que significa isso hoje, mas eu sei que era um salário bastante normal, só que Eliane e eu estávamos juntos, então a gente somava os nossos dois salários e dividíamos as despesas e, enfim, foi um começo muito… de muito esforço, mas teve estrutura. E isso eu queria reafirmar… essa estrutura deve-se muito à Unicamp, ao Celso e aos professores todos. Era empolgante ir pra lá e cruzar com essas pessoas. Vocês conheceram a professora Marlyse Meyer, né?
Carla: Siiimmm!
Paulo Betti: Então, ela era incrível, uma entusiasta do melodrama, que era uma coisa que ninguém falava naquela época. E ela contando aquelas… e os livros que ela escrevia!
Mônica: Paulo, deixa eu aproveitar que você tá lembrando de algumas pessoas? Tem uma pessoa que eu sei que foi colega de vocês, foi nosso professor, que a gente tinha um carinho especial, que é o Adilson Barros. Fala um pouquinho dele pra gente, da amizade de vocês, enfim…
Paulo Betti: Éee, esses dois que se foram, né, o Adilson e o Waterloo. O Waterloo ficou muito tempo na Unicamp, né? O Adilson foi o melhor amigo meu…
Mônica: Os dois foram coordenadores do curso, tanto o Adilson quanto o Waterloo.
Paulo Betti: Então, o Waterloo fez parte do Pessoal do Victor, foi do nosso grupo o tempo todo, desde o início. E tinha uma influência muito grande no grupo. O Waterloo trabalhava no cartório, ele era escrivão. Então, como escrivão, ele tinha que datilografar com muita habilidade. Então o Waterloo trabalhava pra gente como datilógrafo também, então ele tinha o poder de ser o cara que batia as peças. Eu me lembro perfeitamente do Waterloo com o cigarro aqui, parecia uma cena de Nelson Rodrigues, o cigarro no canto da boca, com aquela máquina grande, aquelas máquinas pretas assim (gesto), e a gente ao lado, cercando o Waterloo e ajudando ele, lendo o texto, as frases das peças… e tinha que ser batido em stencil para ser utilizado depois em diversas cópias pelo… como é o nome daquilo?
Mônica: Mimeógrafo.
Paulo Betti: Mimeógrafo! (risos) Mimeógrafo, gente, é um negócio muito doido! A gente fazendo uma live e falando de mimeógrafo! (risos)
Carla: Aquele cheiro de álcool, né? Eu fiz muita prova com o mimeógrafo…
Paulo Betti: Genial! Genial! E o Waterloo era um ator fantástico! O Waterloo era muito bonito, alto, e ele era… tinha uma coisa com o corpo… Waterloo era um príncipe etíope. (risos) E o Adilson era um amigo meu lá de Sorocaba, ele foi um ano depois que eu fui pra São Paulo. Depois que eu fui pra EAD, quando eu tava no segundo ano, o Adilson entrou no primeiro. E quando a gente saiu no terceiro, o Adilson saiu junto. Ele deixou o curso pra ficar com a gente, no Pessoal do Victor. E daí, ele foi pra Unicamp. O Adilson era formado em Direito também, em Educação Física. Ele era professor de Educação Física e formado na Faculdade de Direito de Sorocaba. Era meu melhor amigo, assim, um graaande parceiro. O Pessoal do Victor… como eu disse assim… o Marcio Tadeu, no início, mais adiante, depois que houve uma separação no Pessoal do Victor, o Adilson, então, ganhou um protagonismo dentro do grupo como força propulsora. O Adilson, pela formação dele em Direito, ele estruturava tudo do ponto de vista de colocar na lei, de não sei o quê… o Adilson é criador da Cooperativa Paulista de Teatro, né? Ele é um dos caras que criaram. Um grande amigo meu. E aí fizemos Na Carrêra do Divino na Unicamp, onde o Adilson fez o papel magnífico, que ele fazia, do Jeca, e depois acaba fazendo o mesmo papel no filme A Marvada Carne.
Carla: O Adilson era um professor delicioso, meio louco, maluco, no bom sentido, e era amigo da gente. Ele era uma figura, não é?! Vai aí, Mônica.
Mônica: O Adilson era “radical”.
Paulo Betti: O Adilson, então, ele saiu de Sorocaba com essas duas coisas, né, de ser formado nessas duas… Ele tinha um trabalho físico muito bom e o Adilson tinha uma vibração e Na Carrêra do Divino o Adilson carregou, assim, nas costas, digamos assim. A interpretação dele era uma coisa excepcional. E aí, (em) Na Carrêra do Divino houve um brilho grande do Adilson e da Eliane. Todos estavam maravilhosos, mas esses dois papéis… sempre tem isso, né? Imagina a Eliane fazendo a Mariquinha, que é a mocinha caipira! O professor Antônio Cândido falava… ficou apaixonado! Quando assistiu à peça em São Paulo, falava em casa, com as filhas “com esse chapéu, parece a mariquinha”. Então, era muito sucesso da Eliane e do Adilson. Aí, depois de muito tempo, a gente desfez o grupo, né, porque essas coisas acabam interferindo na dinâmica, né? O que é mais vistoso… aí um ganha um prêmio o outro não ganha… aí começa um processo doloroso, né? E também, o mesmo que tinha acontecido comigo, com relação ao Celso, que era eu substituir o Celso, que era uma coisa mais ou menos… que era… parece coisa de pai e filho, né? Eu tinha que, de uma certa maneira… porque, assim, o Celso dirigiu Victor… (Victor ou as Crianças no Poder). Aí a gente fez Victor, e aí falou “mas e outra?”. O Celso: “não posso agora, eu estou fazendo uma peça com a Fernanda Montenegro”. Aí a gente faz assim: “pô, o quê que a gente faz? O quê que a gente faz?” Aí eu levanto a mão: “ah, eu tenho uma peça que eu dirigi lá em Sorocaba. É bacana! vamos fazer enquanto o Celso não vem.” Nessa eu me transformo num diretor. Aí, ganhei os prêmios de revelação do ano, não sei o quê, aí, vamos dizer assim, me escalei como uma alternativa para as direções do Celso e dirigi Na Carrêra do Divino.
Mônica: Ô Paulo, deixa eu só te interromper… Você falou, já, algumas vezes, da Eliane aí, né, e ela deixou um recadinho aqui pra você, vou passar pra você.
Paulo Betti: Ooooh!
Eliane Giardini: (em vídeo) É interessante evocar esses períodos da vida da gente, não é? Nós tínhamos nos formado recentemente na Escola de Arte Dramática, havíamos constituído um grupo, que era o Pessoal do Victor, e o Rogério Cezar de Cerqueira Leite, que era o reitor da universidade de Campinas na época, contratou o grupo todo pra pensar, pra ajudar o que seria uma escola de teatro ideal. A ideia nem era tanto formar atores, era mais trazer as pessoas pra perto do teatro. E foi interessante que, logo no primeiro ano, teve um número muito grande de alunos trancando matrícula, porque até então não tinham parado pra pensar se haviam prestado o vestibular para o curso certo, se aquela era a profissão que eles gostariam de seguir… estavam, assim, meio que no piloto automático de uma vida escolar… e esse papos, essas conversas, esses exercícios traziam esses alunos pra perto deles mesmos, da essência deles. Um período muito bonito, o Paulo entrou de cabeça, fez vários cursos, várias peças… É, foi bem bonito! Saudades desse tempo. Ah, enfim, foi um período muito intenso, muito rico. Um beijão pra você Paulo!
Paulo Betti: Oooooooh! Eliane! Eliane é muito querida! A Eliane, bom a gente tem uma relação bíblica, né? (risos) Tô brincando! A Eliane mora aqui pertinho, mas a gente tá nessa coisa da pandemia, estamos sem se ver. Ah! Agora me emocionei, aqui também, né? Vocês estão parecendo aquele arquivo confidencial do Faustão (risos). Eu pensei que era um negócio da faculdade, de Campinas, Unicamp não sei o quê… Tô no Faustão?!
Carla: Essa afetividade, a gente trazer isso é muito bom, porque eu acho que vocês tinham isso quando vocês começaram na Unicamp, né, Paulo? Porque era tudo na raça, era tudo coração. Não tinha essa coisa “uó”. Tinha o mentor de vocês, que era o Celso. O resto era na raça! Mônica, você quer continuar?
Mônica: Eu acho que é um período que a gente pegou na rabeira, né, porque nós somos as primeiras turmas, então, pra nós também, aquilo lá era… a gente tem um carinho… foi a experiência mais forte que eu já tive em termos profissionais, e tal. Então, eu acho que tem essa energia que a gente herdou, acho que tem um pouco disso aí, sim. Eu não sei se a Ana quer seguir? A Ana, a Carla?
Paulo Betti: Ó, só vou abrir a janela aqui (sai e volta), pra refrescar um pouquinho, peraí.
Mônica: Você se imagina… que poderia ter sido professor na Unicamp, Paulo?
Paulo Betti: Sim.
Mônica: Continuaria? Qual seria a sua disciplina? Seria direção? Interpretação? Por onde você caminharia?
Paulo Betti: Aaah! Não sei. Não sei. Talvez direção de ator, interpretação… mas talvez fosse pra escrita também, alguma coisa relacionada com dramaturgia, que eu acho que, assim, é fundamental um bom texto. Você ter uma boa peça, bem estruturada, bem armada, bem escrita, é pra nós atores… já foi, né? É só não tropeçar no cenário, né, e decorar o texto, como diz o Antônio Pedro, o nosso colega aqui. Mas, eu me vejo, sim, tanto que eu, eu, sempre achei, eu sempre gostei dessa tarefa de dirigir, de dar aulas. Minha casa foi virando assim, uma espécie de… eu tive aqui no Rio por vinte e cinco anos… Logo depois que eu saí da Unicamp eu vim pro Rio, pra fazer novela. Mas não foi só pra fazer novela, porque, isso não bastava. Aí, eu fiz a Casa da Gávea, eu fiz um Centro Cultural aqui e a gente, junto com colegas, durante vinte e cinco anos eu fiz um trabalho de educação, de debates, de informação, de formação, né? Nós fazíamos leituras dramáticas, lemos mais de três mil peças de teatro de jovens autores. Todos eles estão aí, hoje. Passaram pela Casa da Gávea. Além do que as leituras eram tão fortes, porque o lugar era bem no Baixo Gávea, então, tinha assim, no elenco sempre… todos os atores que vocês possam imaginar… a Fernanda Montenegro lendo um ciclo do Gianfrancesco Guarnieri, Eles não usam Black Tie, Fernanda Montenegro ali, lendo! Então tá tudo na internet, a gente tá com tudo… a Casa da Gávea…
Mônica: Eu vi a Casa da Gavea.
Paulo Betti: TV Casa da Gávea. TV Casa da Gávea.
Ana Célia: Então, você estava falando dos seus jovens autores, né? Você teve um programa de entrevista com novos talentos. É difícil de a gente encontrar material sobre, né? A gente sabe disso, mas eu queria que você falasse, contasse um pouquinho como é que era isso, né? Acho que é no Canal Brasil?
Paulo Betti: É, é no Canal Brasil! Na TV a cabo, né, Canal Brasil. Deve ter no site do Canal Brasil, deve ter isso. Acho que eu fiz umas 40 ou 50 entrevistas com jovens assim, atores. A gente gravava sempre quatro ou cinco entrevistas e era uma conversa franca sobre método, né, sobre… porque nós, atores, vamos dizer assim, a gente tem… o ator brasileiro tem aquele compromisso com Stanislavski, né, de sentiiiir o personagem, de incorporaaaaar… parece Umbanda. Recebeu, vai ser o cavalo do personagem. Isso é bom, mas ao mesmo tempo dá medo em algum momento, né? Então, eu sempre fui um pouquinho assim… tirando um pouco esse peso, sabe? E agora eu tô realmente, cada vez mais, radicalizando pra tirar o peso das costas do ator. Porque é o seguinte: se tiver um bom texto, o ator for razoavelmente preparado fisicamente, sabe ficar em pé, sabe ficar bem postado em cena, não sei o quê, tem um domínio do seu corpo, não esbarra, não derruba o cenário toda hora, lembra o texto direitinho… pronto! Aí, deixa as coisas acontecerem, senão fica aquele negócio daquele sofrimento, né? Talvez seja um resquício… um resquício, não, mas uma coisa de proteção que eu adquiri durante aquele período de laboratório pra entrar na EAD, porque foi tão impactante que eu falei assim: “gente, eu não tô sentindo nada disso! Eu tô supondo, eu tô improvisando aqui, tentando chorar na frente do muro das lamentações, aqui, na cidade de Jerusalém!!! Pô, minha cultura é católica, umbandista, não tem nada a ver com esse livro que estava sendo objeto da nossa improvisação, que era Mila 18 (provavelmente refere-se ao romance Mila 18, de Leon Uris) e a gente chorava! Aí, eu fiquei um pouco mais, assim, inclinado ao teatro do Meyerhold, que é de fora pra dentro, que você compõe de fora pra dentro, quando Stanislavski propõe que você vá pra memória das suas emoções… eu não queria matar meu avô, eu não queria lembrar da minha avó, que tinha morrido, da minha infância sofrida… eu fui sendo um ator meio defensivo em sentir personagens, entendeu?
Carla: Paulo, aproveitando, a gente tem uma pergunta também, que é como você faz, você já respondeu aí um pouco, como você faz a construção da sua personagem? Quer dizer, é uma pergunta meio chata, mas eu acho que é interessante porque atores vão ver, né? Como é o seu processo criativo, de se aproximar da personagem?
Paulo Betti: Olha, assim, eu preciso me cercar de muitas circunstâncias… se é o autor X, ler outras obras dele. Eu sempre acho que… tem o texto, obviamente, estudar o texto, ver as correlações que o texto faz com… né? E por mais que eu tô brincando aí do projeto emocional do Stanislaviski, eu sou completamente apaixonado por Stanislaviski. Então, também tem objetos de memória afetiva que, hoje, essa palavra não se usa no Stanislavski, mas podíamos usar o gatilho… então, tem aquele objeto… quando eu faço o filme Lamarca, eu levo o cachimbo do meu avô, que tá em cima, ao lado do revólver do Lamarca. Então, eu sempre trabalhei bastante com isso, vamos dizer conferir alguma circunstância emocional pra que aproxime do personagem. Então, é isso, cada processo… E isso é muita coisa, porque se você vai fazer uma peça do Tchecov, eu pressuponho que você… “não se poupe, não se poupe”, como dizia o Soffredini. Você então vai ler tudo o que achar do Tchecov. Então era assim. Eu não fiz Tchecov, eu fiz Gogol na Escola de Arte Dramática, com Silvio Zilber. Fiz O Inspetor Geral.
Mônica: Paulo, você falou da sua época da EAD, você falou da sua defensiva emocional, né? Você acha que o teatro, ele caminha conforme uma sociedade caminha? A estética vai mudando conforme a realidade vai mudando, ou precisa, necessita? Você acha isso, ou não tem nada a ver, a gente faz o que quer?
Paulo Betti: Não! A gente é fruto do momento, do meio, da circunstância. Tanto que nós estamos… Esse aqui é o nosso teatro possível nesse momento, né, nós estamos fazendo aqui… tentando extrair o melhor da situação mais complicada, mas dificilmente a gente conseguiria fazer essa reunião. Provavelmente faríamos em Campinas, mas, com um grupo grande de alunos, e tal. Mas, agora a gente tá… ainda talvez com um grupo grande de alunos e de interessados, fazendo um teatro aqui, de uma certa maneira. Então eu tenho feito muito a minha peça, você mesmo… Aqui, eu fiz uma vez aqui na minha casa, mas olha que experiência! É uma forma de tentar sobreviver… nós estamos respirando por aparelhos na real, né? Porque, quando fiz a primeira sessão online foi no teatro Petra Gold, aqui no Rio de Janeiro. Eu tive a sensação, fazendo a peça, porque não tinha ninguém no teatro, tinha uma pessoa assistindo só. Mas, aos poucos, a gente percebe que gosta de fazer pra aquela pessoa só, também. Por que, quantos ensaios a gente faz pra ninguém, ou só pro diretor da peça? Então, eu tinha três técnicos meus e três câmeras. Quando acabou eu senti o tempo todo que eu tava entubado, que eu tava fazendo e que eles eram os caras que estavam me dando oxigênio, que eles é que estavam mandando a minha peça pra Tocantins, Votorantim, pra tudo quanto é lugar, né? Depois, eu fiquei sabendo, as pessoas entravam na internet e falavam: “eu vi, não sei de onde aqui!”, “eu vi!”. E aí, eu fiz relações com esse pessoal, então, é isso que você tá dizendo… é uma forma de adaptar o teatro a esse momento. Se isso é teatro? Eu sinto que é. É um teatro transmitido, porque ele é ao vivo, isso que é interessante! Ele é “ao vivo”. Então, naquele momento em que a peça tá acontecendo, as pessoas estão vendo.
Mônica: E é bonita essa coisa de você poder chegar no Tocantins ao mesmo tempo em que você tá no Rio de Janeiro. Eu acho isso assim, genial. Apesar de ser diferente, mas é uma maneira de aproximação, né?
Paulo Betti: Mas é uma coisa que vai ser feita, já vinha sendo feita um pouquinho antes da pandemia, mas por grupo de danças, de óperas do mundo que transmitem… as pessoas vão assistir no cinema, numa tela grande. Agora vai ser assim, o teatro, quando ele voltar, vai ter aquelas câmeras lá, em algum lugar, e cada vez elas vão ficar mais sofisticadas, pra transmitir pra quem não tá ali, naquela hora, mas pode também usufruir daquele espetáculo. Na medida em que esse número de espectadores seja muito grande, e ele será maior do que aqueles que estão ali na sala, imagino que os atores vão descobrir outras formas de interpretar, né, tentando fazer essa média entre o ao vivo e o que… eu senti muito isso, porque, eu pedia pra pessoa que fosse me assistir, sentasse bem no centro, onde atrás dela tinha uma das câmeras que eu pedi que me seguisse num plano assim, como nós estamos, né, esse plano americano. E tinha outras duas câmeras lá, né, mas eu falei assim “não, eu vou pra essa aqui” (gesto apontando pra frente). Então, eu tava nessa aqui, e eles puseram um pouquinho mais alta do que deveria, então meu olhar ficava se dividindo entre a tela da câmera e o olho da pessoa que tava assistindo. Então, eu fiz a primeira sessão dilacerado, porque meu desejo inicial era fazer pra pessoa que tava ali, seria mais autêntico, mais forte, mas eu sabia que tinha muita gente olhando do outro lado, então eu… até que consegui esse equilíbrio pra fazer dar a impressão que tava olhando pra pessoa, quando na realidade estava olhando pro olho da câmera.
Mônica: E uma outra coisa, nesse sentido também, é que essas pessoas que vão assistir, em um outro momento elas poderão se sentir motivadas a irem ao teatro, né, que também é uma coisa de atrair o público pro futuro, né?
Paulo Betti: Eu gostaria, daqui a pouco, eu não tô fazendo isso porque eu não tô vendo que estão fazendo isso, mas daqui a pouco, vão fazer espetáculos no mundo que… fizeram um agora há pouco lá na Grécia e você podia ver em casa! Vai rolar. Não é igual no teatro que você tem todo o público na plateia e você… Tem que encurtar as peças, também. Foi uma experiência muito interessante com minha autobiografia… eu saí de uma coisa… É um absurdo que meu ego achasse que podia ficar duas horas falando sobre minha infância e minha adolescência. Não, tudo bem, bacana, mas aprendi a fazer isso em cinquenta minutos, e cortei um monte de história que não eram tão… o cachorro da minha vó… como que a carrocinha pegava o cachorro… sim, é bacana! Mas fica pra autobiografia escrita. E, no teatro eu enxuguei a ponto de chegar a cinquenta minutos. De duas horas pra cinquenta minutos. É prática, é da prática, né?
Ana Célia: Ia perguntar, Paulo, se você acompanhou o desenvolvimento do curso da Unicamp de longe, né? Se você tem uma opinião de como é o curso, o que você acha dele, que é o nosso ponto de contato e também, assim, se você puder voltar um tiquinho, contar como é que deu esse afastamento, né, de não seguir a carreira acadêmica?
Paulo Betti: É, veja bem, as coisas vão acontecendo, né, eu nunca tive muito sonho de ir pra televisão, eu tava feliz da vida na Unicamp. Agora, eu tinha feito um curso de nível técnico. A EAD não é um curso de nível superior, é um curso técnico. Então, eu tinha feito o Clássico e tinha feito depois uma coisa equivalente, de novo, ao Clássico, que era o Técnico. Então, eu não tinha curso de nível superior. Então, o meu desenvolvimento dentro da Unicamp também, eu iria ter que fazer uma faculdade, eu iria ter que fazer alguma coisa que depois me propiciasse fazer uma pós-graduação, enfim, a ter uma carreira universitária, pra sair do MS1 e ir pra algum outro lugar. Aí, apareceu a história da TV. A Globo era o sonho de todo mundo! Todo mundo que era ator, e eu me considerava muito mais ator do que professor, ou alguma coisa assim. Era ator, né, e todo mundo que era ator queria ir pra Globo. Eu não tava sonhando com Globo, mesmo! Mas, aí, fui convidado pra ir fazer uma novela, com papel bacana. Eu, falei assim “aaah!” a minha curiosidade foi imensa, né? Claro que eu queria. Eu já tinha feito novela em São Paulo também, até acho que, durante o tempo em que eu trabalhei na Unicamp, eu devo ter feito alguma coisa, viu, Os Imigrantes na Bandeirantes, eu fiz na Tupi também, eu fiz Como Salvar Meu Casamento, eu tinha feito novelas, sim. Aí, aí eu fiquei com aquela coisa, né, a “mancança” da Unicamp me fez criar a Casa da Gávea, no Rio. Minha brincadeira é essa, quer dizer, eu falei assim “ah, vai ter um lugar aqui no Rio pra vocês de Campinas, pra vocês de Sorocaba, pra vocês de Piracicaba, de Votorantim, de Rafard, de qualquer lugar, tem um canto aqui no Rio de Janeiro que é de vocês, que era a Casa da Gávea. E foi bastante fértil, né? Eu hoje me orgulho de ter feito esse projeto também. Então, meus projetos foram: Unicamp, a USP, a escola que eu fiz lá, e a Casa da Gávea.
Carla: Paulo, só pra terminar, eu não posso deixar de perguntar e falar que você sempre foi um cara engajado, muito bem resolvido politicamente, coisa rara, que até eu faço umas emboladas na minha cabeça… Você não! Você tem uma retidão, uma certeza… bárbaro isso! E muito culto, você lê, você é uma pessoa culta, comunicativa… Agora, me fala a verdade, olha pra câmera de verdade… Se você fosse convidado pra ser ministro da cultura, você iria?
Paulo Betti: (risos) Eu lembrei dessa pergunta, lembrei. Não acho que eu teria capacidade pra isso. Eu ficaria muito lisonjeado e já fico só pelo fato de vocês estarem perguntando isso, já fico todo vaidoso aqui. Mas, eu acho que não, acho que não. Eu fiquei muito impressionado de ver… por exemplo, o Antônio Grassi foi pra Funarte, e fez um trabalho lindo lá e o Grassi gosta muito disso. Então eu não sei…
Carla: Só fazendo o convite pra você… (gesto de olhar pra outro lado e à frente)
Paulo Betti: Faz o convite, que o próximo governo do Haddad, fazendo-me o convite, ficarei muito lisonjeado.
Mônica: Eu acho que agora eu vou colocar uma homenagem pra você.
Celso Nunes: (em vídeo, de frente para a câmera, sem camisa, parte iluminado pelo sol, parte na sombra, conta até cinco para começar a falar) “Oi, Paulo. Como vai, querido? Você tá? Eu tô aqui, como você vê, rasgando papéis, agora que nós chegamos nesse ponto da vida, em que os papéis tem que ser rasgados, não é? Lembrando que, quando a gente se conheceu, era fase de guardar papéis, comprovantes, fazer currículo, juntar os comprovantes todos pra poder conseguir o quê? Uma bolsa, uma ajuda, uma peça pra ser montada, uma escola de teatro pra ser criada! Então, eu tô aqui amargando também uma sinusite, por isso que eu tô com essa voz. E acabei de saber também que uma grande amiga minha, lá de Florianópolis, faleceu. Então, quer dizer que nós estamos vivendo outros momentos, momentos pandêmicos, onde aquela coisa brasileira, de alegria, já era. Quem sabe volte. Aqui atrás de mim, como você vê, olha ali, ó, tem uma lâmpada que eu ganhei do Dr. Alfredo Mesquita, naquela EAD ainda antes de vocês chegarem, você e a Eliane, e lá, mais no fundo, pendurada, uma cabeça do Equus, não é? Então, é o momento de a gente falar de coisas do passado e agradecer pela colaboração, pela amizade, pela confiança que sempre teve entre nós, e a força que você levou pro departamento de Cênicas, o talento, a dedicação, tudo isso mora no peito de nós todos e dos alunos que estão fazendo esse trabalho, pra guardar alguma memória desses tempos, viu? Então, é isso meu irmão (fala isso rindo). Então é isso, meu irmão! Tá tudo meio assim porque morreu a minha amiga, bem mais nova que eu, e… É por aí, cara! Vamos fazendo o melhor que a gente pode enquanto tá vivo (olha fixamente para a câmera). Beijo (desliga)
Paulo Betti: (reagindo ao vídeo) Caramba! Que emocionante! Nossa! Que emocionante! E sabe que eu tô fazendo isso? Tô rasgando papeis aqui. Só que ainda tô guardando, tô guardando mais que o Celso, ainda. Ainda tô guardando. É incrível o que ele falou, né, que a gente guardava os comprovantes, né?
Carla: Ele é meio bruxo, né? Ele quis falar isso pra você, é impressionante! Agora eu vou falar uma coisa, enquanto você tá emocionado. Quando a gente pede o depoimento e a gente recebe, como a gente recebeu o seu, né, quando você mandou pra Marcília e pro Reinaldo, a gente super se emociona também, Paulo. A gente vê o carinho, vê a história ali, vê… Eles foram nossos professores, você é um cara que a gente admira, o Celso, também… Eu tive muita aula com o Celso. Eu tive esse privilégio. E a gente super se emociona, então… Não é fácil não, viu?
Paulo Betti: É a vida, né?
Carla: É a vida de quem tem memória, quem tem afetividade, quem tem coisa pra contar. É assim!
Mônica: Mas, é tão bonito ter essa história compartilhada, essa história vivida, né? E ela é repartida, ela não é de um só, né? Ela é coletiva, ela é democrática. Então, acho que ela é saudável, né, ela é bonita.
Paulo Betti: O Celso ele tinha um processo muito interessante de pesquisa. Nós fizemos peças que nós não fizemos… Nós fizemos um projeto durante um ano, de uma peça que acabou não saindo. A gente fez toda a pesquisa, estruturou tudo e não conseguimos montar, mas foi tão bonito o processo! Chamava-se Nesse Mistério, Contemplamos. Nesse Mistério, Contemplamos, e falava sobre os ritos de passagem. Tão bonito! Fizemos processos interessantíssimos com o Celso. Os Iks, A Vida é Sonho, O Processo do Kafka… E o Celso, era o que você diz, ele tinha um, vamos dizer assim, a figura do Diretor do teatro, né? Como ele aparece aqui no nosso vídeo, né? Fiquei pensando naqueles diretores antológicos do teatro americano, ou sei lá, ou… nenhum teria um físico, um physique du rôle tão bom quando o do Celso. Quero dizer, o Celso é “o diretor”, né?… “como que você imagina um diretor de teatro? Pá…” (gesto) você bota o Celso que…
Mônica: É o Peter Brook brasileiro, né?
Paulo Betti: E ele tinha um… Dirigiu atores muito importantes, estudou na Sorbonne… ele era um grande exemplo pra gente! Abriu muitas… Nossa! Além da generosidade do Celso: ele nos recebia na casa dele, todo o grupo, pra almoços, assim, todo mês, todo domingo tinha na casa do Celso aquele almoço. E a gente tava lá, a gente que morava numa kitnet no centro de SP, ia pra casa do Celso. O Celso sempre foi muito generoso.
Carla: O Paulo, você também foi muito generoso aqui com a gente, muito disponível. Eu acho isso tão bonito, porque você é um cara de TV, teatro, cinema e você logo nos atendeu, eu mandei mensagem e logo depois você já respondeu… Isso é tão bonito! É tão precioso! É verdade… em nome da nossa equipe, eu quero agradecer você, viu?
Paulo Betti: É aquela coisa do Celso, né, eu acredito muito nisso, sabe? De a gente ter redes de contatos e de… Porque todo tempo que eu fiquei na Unicamp… Na Unicamp, não, na Casa da Gávea, depois de sair da Unicamp, chegando no Rio, eu fiquei muito amigo do Betinho, do Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), da Campanha da Fome, o grande Betinho! E a Casa da Gávea tinha muita parceria com o Ibase. E eu comecei a entender, cuidando de um Centro Cultural, que era a Casa da Gávea, precisava ter redes de apoio, de… quem frequentava, quem… fichando todo mundo, os alunos, os frequentadores… depois o Betinho introduziu pra gente a internet! Eu tô falando de 92 (1992), internet! Aí, então, a Casa da Gávea começou a ter seus primeiros e-mails. E aí chegou uma hora em que a gente tinha vinte mil e-mails. Então, sempre achei isso importante e transferi isso também pra minha atuação, porque eu sinto que isso me fortalece também, né? Ao mesmo tempo me aproxima… Quem disse que daqui um ou dois anos nós não vamos fazer uma presencial lá na Unicamp, e fazer um negócio interessante? Eu tô com uma peça, eu tô trabalhando… “não se poupe, não se poupe”!
Carla: Ó, isso nós vamos levar, viu? O “não se poupe” a gente já vai levar…
Paulo Betti: Soffredini, Carlos Alberto Soffredini!
Mônica: A nossa pretensão é fazer desses relatos uma revista digital, e nós estamos abrindo um Instagram logo mais. E aí nós vamos colocar um podcast… enfim, pra deixar isso ali pra todo mundo ver, ouvir e tal. A gente só tá na batalha de patrocínio, como sempre, mas essa parte do Instagram a gente faz a gente mesmo, então fica mais tranquilo. É só pra você saber o que nós vamos fazer com tudo isso e, claro, assim que isso tiver realizado a gente vai te avisar.
Paulo Betti: Boa sorte! Foi pra mim muito agradável, e muito bom recordar, emocionante! A Eliane falando, o Celso falando… E olha, parece que o Celso adivinhou… hoje ele me mandou durante o dia, uma carta que eu mandei pra ele. Fotografou e mandou pelo whatsapp. Aí, eu tô exatamente debruçado nas fotos de Na Carrêra do Divino, das coisas…porque veio uma equipe… eu me transformei um pouco num personagem que eu faço no meu filme A Fera na Selva, com a Eliane Giardini. Porque a minha casa… quando a Casa da Gávea acabou, tudo da Casa da Gávea veio pra minha casa, todos os arquivos, o acervo todo da Casa da Gávea, os livros, tudo, veio pra cá. E aí eu fiquei meio assim, eu sou quase um dono de um sebo particular. Aí eu resolvi trazer uma equipe pra me ajudar, pra me ajudar a organizar tudo isso, né? Aí, hoje me falaram assim “olha, você tem que mexer ali” (gesto apontando). Ali, eram todas aquelas fotos e tal… Essas viagens são emocionantes, né? Mas é bom, porque daí vai pra autobiografia, tô escrevendo o que seria a peça ampliada ao máximo, aí folgando na contação de história.
Carla: Paulo, se você tiver foto aí com todo mundo dando aula, todo mundo em cena, do pessoal que foi professor na Unicamp, e quiser mandar pra gente, nós estamos aqui, tá?
Paulo Betti: Tá! Eu vou pensar nisso amanhã, na hora em que eu cair ali… porque hoje eu só tive coragem de tirar de dentro do buraco. Isso que o Celso fala, de você juntar os comprovantes… Eu tô vendo quais os comprovantes que eu posso jogar fora.
Mônica: É, a gente tem que fazer uma limpeza e segurar uns comprovantes, né, como…
Paulo Betti: Souvenirs.
Mônica: É souvenirs da vida. Bonito! Ó, bonito nome! Oh, Paulo, muito obrigada, viu?
Paulo Betti: Obrigado! Foi ótimo o contato com vocês, foi muito bom e, vamos em frente!
Ana Célia: Obrigada, Paulo! Foi um prazer muito grande. Uma admiração muito grande pela pessoa que você é e artista. Obrigada!
Paulo Betti: Valeu!
Carla: Você merece todo o nosso respeito, viu, você é muito generoso!
Paulo Betti: Obrigado, queridas! Eu vou apertar aqui pra sair, tá? (gesto mandando beijo) Adios, pampa mia!
Mônica: Adios!