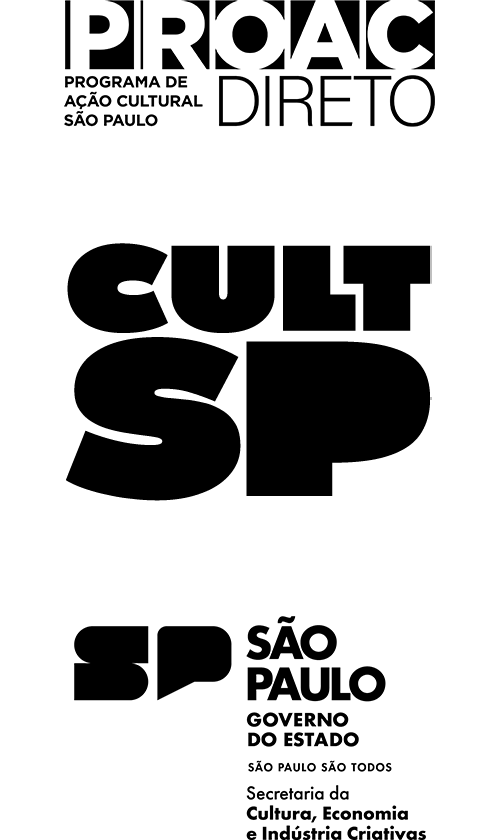Mônica Sucupira: E ali se juntaram assim, é… Hoje,, atualmente somos em 120 ex-alunos da Unicamp de Cênicas e, de 86 pra cá, são 34 anos. E a gente teve, através da Neyde… deu vontade de contar essa história, de falar um pouco sobre essa felicidade que é.
Porque todo mundo – só pra você ter uma ideia, o nosso grupo chama Unicampenses Felizes-, então, assim, é muito feliz de ter feito a Unicamp, Artes Cênicas né? E aí, teve um momento que todo mundo começou a contar como que começou as Artes Cênicas, e todo mundo falou muito de você, do seu trabalho, da sua experiência, do que você realizou. E aí deu vontade de nós três conversarmos com você, para saber de você dessa história, né? Então, essa é a ideia da gente estar proseando com você, é uma prosa, uma conversa, eu acho que a gente pode começar. E só para te dar uma ideia, um lance que passou na nossa cabeça é de estar registrando as suas palavras né. Eu acho que isso é muito, e tem uma coisa que eu queria te falar, isso é muito pessoal meu, as pessoas têm muito carinho por você, além de todo mundo achar você incrível, maravilhoso, o diretor, “queria trabalhar com ele” – são essas palavras que a gente ouve -, mas todo mundo tem um carinho especial a você. Então é isso, eu acho que a gente pode começar, né?
Celso Nunes: Já chegou dentro do coração. Eu ia fazer aquela coisinha (sinal de coração com as mãos), mas não vou. Mas, já tá aqui o que você falou, já tocou, já tá aqui dentro. Eu já tava um pouco preparado também pra mexer com emoções, pra ter um momento assim de pandemia afetiva, digamos assim, não é bem memória afetiva, mas é pandemia afetiva no caso.
Carla Hossri: Oh, Celso, como você foi o mentor dessa ideia toda, isso tem uma importância muito grande para a gente, pra Unicamp, porque você vai contar, nunca fizeram isso, então você vai contar um pouco a história de como foi montado, de como aconteceu. Por isso a gente fez aquelas perguntas, mas a gente se sente à vontade, você também. Se quiser responder na ordem, se não quiser, a gente está mais interessado no nosso bate-papo afetivo aqui, tá bom?
Celso Nunes: Tá bom.
Carla Hossri: Então vamos lá, Moniquinha, comece.
Mônica Sucupira: Pra começar, eu queria saber uma coisa de você: você faz parte de uma das primeiras gerações que tem o estudo do teatro aliado à prática do teatro. Você é um estudioso do teatro, foi, né? Não sei como você se considera hoje. Pra mim você ainda é um estudioso e um prático do teatro.
Como foi esse seu caminho de não saber nada de teatro, de começar a aprender teatro, de entrar na EAD, de ir embora pra França, passar por Grotowski, voltar pro Brasil, passar de novo pela EAD e chegar num projeto que foi O Interrogatório que foi um marco na sua história e na história do teatro, foi um momento que você passa a ser um grande diretor. E tão jovem né?
Celso Nunes: Mais ou menos.
Mônica Sucupira: Como foi essa sua trajetória?
Celso Nunes: Mais ou menos jovem (risos). É assim, olha, eu acho que você já fez um pouco um trajeto na tua questão, que é parte da minha resposta, na verdade eu acho que o que começa a ser interessante é o momento em que eu sou… vou ter que falar um pouco na primeira pessoa pra depois falar objetivamente do teatro, vocês entendem?
Carla Hossri: Isso, claro.
Celso Nunes: Vai um pouco nessa coisa, sei lá, é um pouco egocentrada, mas acho que não tem como escapar disso. Mas, num momento assim, na minha história de vida, eu sou tirado, digamos, da infância e sou colocado numa fábrica. Isso eu não tinha 11 anos de idade. Quer dizer que a pessoa, a pessoinha, a criança, aquela que estava aprendendo o êxtase da natureza, da vida, dos relacionamentos, dos amiguinhos, de tudo, isso aí é cortado e você vira um operário na fábrica e começa a virar aquele automatozinho com 11 pra 12 anos de idade. Eu deduzo – eu não sei isso, eu nunca fiz autoanálise, psicanálise, nada -, mas eu deduzo que alguma coisa se embutiu nesse momento, parte de mim não pôde se expressar. Porque eu fui pra um esquema industrial de fábrica, de balanças, de contar parafusos, de trabalhar na linha de montagem e pegar caixinha com compartimentos, tantos parafuzinhos desse calibre, tantos dos outros, uma alanvaquinha tal, tal e tal. E eu era um menino que entregava essas caixinhas, contando e pondo parafusos pros caras da linha de montagem. Isso foi durante muito tempo. Aí quando eu cheguei nos 14 anos, e que já estava melhor alfabetizado, aí eu fui trabalhar como office boy ou mensageiro interno em uma empresa chamada White Martins, que existe até hoje, que lida com oxigênio. Aí eu passei, então, a trabalhar em escritório, eu saí da fábrica e fui pro escritório. E ali tinha pessoas interessantes, diferente do meio da fábrica, e de repente ali tinha um cara que morava na Vila Brasilândia, chamado José Maria Zolezi, e que ele animava, na sala paroquial da Brasilândia, uns eventos artísticos. E eu, por força da minha mãe ser italiana, tinha começado, com uma prima minha, a aprender um pouco de teclado no piano da casa dela, e que depois, como a gente não podia comprar teclado, foi comprada uma sanfoninha, acho que Todeschini, se eu não me engano, e eu ficava no teclado da sanfoninha, mas eu nunca levei música a sério, nunca aprendi isso. E de qualquer forma, o Zolezi que trabalhava no mesmo andar que eu, no quinto andar da White Martins, só que ele era mais velho, ele já tinha um cargo de escriturário, eu era o mensageiro que pega papel na caixinha do contador e leva pra distribuir pras mesas do escritório. Quer dizer, sempre colocando coisas em caixinhas, organizando, sempre organizando linha de produção, escritório etc. Então, o Zolezi me chamou pra participar de um desses eventos na Vila Brasilândia, tem uma foto até disso, eu tocando uma sanfona num palco da sala paroquial da igreja da Vila Brasilândia. E ali tinha também uma cortina de seda japonesa, linda, ou chinesa, que fechava o palco e abria, eu ficava muito emocionado de ficar atrás daquela cortina de seda com umas garças, umas coisas que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto nem em desenho uma garça. Ali tinha garças, campos de flores, eu era toupeirinha mesmo, uma criança toupeira, mas eu tinha o sentido da beleza, eu gostava de olhar pra coisas bonitas e me encantar com isso.
Então, eu comecei assim, foi a primeira vez que eu subi num palco, e toquei ali, tipo E o destino desfolhou, ou Branca, uma dessas valsinhas que meus pais gostavam, pediam que eu aprendesse. Então não era o meu babado, porque, já com 14 anos eu gostava de Elvis Presley, eu era rebelde, quando eu fiz 18 eu já capotei com um automóvel, 5 capotamentos, eu já quase perdi a perna! Eu era muito rebelde, roqueiro, eu fui crescendo um estudante roqueiro e bem rebelde. Aquela criança ficou sepultada, eu acho, dentro de mim, até 1962, que eu descubro por um jornal de São Paulo que existia uma escola de teatro, e foi aí que deu pra mim um toque, assim: você tá fazendo tudo errado na vida. Aí eu já tinha 21 anos, e eu me interessei pelo anúncio de que tinha escola de teatro que ia apresentar Macbeth, de graça, no teatro Cacilda Becker. Eu nunca tinha feito nada disso, entrado num teatro, aí uma namorada minha que tinha me levado pra assistir o Panorama visto da ponte, um dia num domingo, “Ah vai lá, vai lá, vai lá”. E eu fui lá ver o Macbeth, que era com a Aracy Balabanian e um dos professores da EAD, o Paulo Mendonça, ela fazia a Lady Macbeth, o Paulo Mendonça fazia o Macbeth. E muitas pessoas que, depois, eu fui conhecer durante o curso na EAD, como o Paulo Villaça, Rodrigo Santiago, que faziam papeis nessa montagem do Shakespeare, aí foi um encantamento total, eu resolvi que eu queria fazer aquilo, eu não via muita diferença entre o que acontecia no palco e o que eu sentia. Me senti muito capaz, foi a primeira vez que eu consegui me sentir capaz, que eu não estava a serviço de coisas que me mandavam fazer, mas que era uma coisa que eu sentia que nascia em mim, né? Não era pegar parafuso, por na caixa pra uma balança, não era distribuir papel no escritório da White Martins, era sentimento, não eram coisas. E eu senti que aquilo era possível, que eu gostaria de fazer aquilo. Era a primeira vez também na vida, fora aquela infância onde eu brincava, gostava de chutar bola, gostava de pegar borboleta, eu era especialista em enfiar alfinete em borboleta e fazer a borboleta virar quadrinhos assim, pra pôr na parede, borboleta seca.
Então quando nasceu isso, eu falei: É aí! É aí que eu posso me situar, é aí que eu posso me colocar. Fui atrás da EAD, descobri que a EAD existia, que tinha curso, que você tinha que fazer um exame de entrada e, como eu era bom, sempre fui e ainda sou em Português, aí eu tive a melhor nota, acho que até da história da EAD até aquele momento, que eu tive um dez em redação do exame inicial, e aí, no dia de aprovação, o Doutor Alfredo (Alfredo Mesquita) pediu que eu levantasse no meio da turma toda, que eram os candidatos, no teatrinho da EAD lá da Tiradentes, acho que vocês não conheceram nada disso.
Carla Hossri: Não.
Celso Nunes: E aí falou: “olha esse rapaz, ele é péssimo, ele foi muito mal em comédia, ele foi razoavelmente bem em drama” – que nem era drama, era Ionesco, na verdade uma comédia também, mas era dramático, os caras que não queriam virar rinoceronte. Então, você vê? Isso veio quando eu escolhi o texto dos rinocerontes, eu não sabia que eu já estava atendendo a um impulso que é do subconsciente. Claro que eu podia ter escolhido Hamlet, que o pai rouba o trono, nada disso acho que eu tinha comigo. Eu peguei a lista dos textos que podiam ser montados e, naquele momento, acho que O Rinoceronte estava em cartaz com Walmor Chagas e Cacilda no teatro Cacilda Becker, aquele texto “blá” falou ao pau na hora e eu falei: é o meu texto, esse é o que eu quero fazer! Então, decorei a fala final do Jean, me apresentei com isso, deu 5. Comédia deve ter dado 4 e pouco, foi horrível, mas tinha 10 em Português, então o Doutor Alfredo resolveu me aceitar na escola devido a minha redação, devido ao conhecimento, digamos, da fala e acho que vocês já tem aí esse binômio que é a pessoa que tem o anseio não realizado de querer existir, de querer ser ele mesmo e, ao mesmo tempo, um conhecimento adquirido que leva para a palavra, que leva pro texto, não é? Não tinha nada a ver com medicina, como hoje tem a ver com a minha personalidade, hoje eu estou muito mais voltado para essa questão da anatomia, muito mais voltado pro corpo humano, eu sei entrar no corpo humano hoje, eu sei ir dentro do corpo, mexer em vísceras, mexer em órgãos internos, eu não sabia nada disso. Então, foi o teatro que me conduziu para isso tudo.
Aí foi a EAD (falas sobrepostas), eu comecei a dirigir na EAD.
Carla Hossri: A Mônica quer fazer uma pergunta dentro da pergunta.
Celso Nunes: Vamos lá
Mônica Sucupira: Eu acho que é o que o Celso vai falar agora, sobre que ele entrou na EAD e começou a dirigir. A sua história com a direção começou aí?
Celso Nunes: Total! Começou aí total. Com Sônia Guedes, Zanoni Ferrite, Dionísio Amadi, Alberto Guzik e Francisco Solano, irmão da Juliana Carneiro. E ali eu comecei a dirigir O novo inquilino, aí dirigi uma peça de um aluno do curso de Dramaturgia, chamado Moisés Balstein. Ali eu fiz assistência de direção com o Doutor Alfredo Mesquita, de uma montagem do Hamlet, onde eu também desdobrava, entrava e fazia às vezes o papel do Reinaldo, porque eu precisava de nota em Interpretação e não em Direção, porque não existia esse curso. E eu dirigi um manuscrito do Moisés Balstein, O novo inquilino e A mais feliz das mulheres que foi depois um texto que deu início ao Teatro do Ornitorrinco, então eu não tinha pensado nunca em direção, foi um auê, a plateia se divertia muito, dava muita risada, a Sônia tinha aplausos em cena aberta, tudo isso pra uma escola de teatro era legal, porque em geral o aluno de teatro é crítico em relação aos seus colegas, olha pros colegas sempre avaliando, nunca entregando, o pior público são alunos de teatro, eu acho. Eles não tem a frescura, o frescor das plateias que vão ali pra se divertir, o aluno de teatro vai ali pra conferir. Então pronto, foi isso, foi lá que eu comecei a dirigir.
Mônica Sucupira: Conta um pouquinho sobre o momento em que você sai aqui de São Paulo, vai pra Paris e conhece Grotowski. O que deu em você de ir pra Paris? E por que essa vontade com o Grotowski? O que te chamou? Acho que é um chamamento né?
Celso Nunes: Veja, Paris aparece por causa do sucesso do Tuca, com Morte e vida Severina, que eles tinham feito um escândalo de sucesso na França com o espetáculo. Era também o surgimento do Chico Buarque de Holanda que fez a música pra peça, era um garoto. Nós todos éramos, né? 23, 24 anos. E aí o Tuca fez muito sucesso e, lá em Nancy, na França, descobriram o teatro universitário no Brasil e passaram a oferecer uma bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo. Eu falei com Silnei Siqueira, que era o diretor de Morte e vida Severina, ele deu uma carta de recomendação, porque ele também era egresso da Escola de Arte Dramática, e com essa carta eu consegui a bolsa, mas o que me empurrou definitivamente para Paris foi a experiência de fazer A Falecida no terceiro ano como ator, eu fazia o papel do Pimentel, que era o papel chave na peça, com direção do Antunes Filho. Então o Antunes, que já era muito inquieto e não se conformava com pouco e gostava de dilacerar a natureza dos intérpretes, o Antunes começou a pegar, digamos, em mim, um rapaz de 23, 24 anos, que eu não era promíscuo nem nada, até então eu gostava de namoradinhas, de ir em cinema, aquilo com Antunes virou de eu ter que escarafunchar no erótico mesmo, pra ver como um safado “cata” uma mulher casada atrás da porta da privada de uma doceira no Rio de Janeiro, e dá um “crau” na mulher atrás da porta do banheiro, porque ela entrou no banheiro masculino por engano e tinha um cara lavando a mão que deu um “crau” nela. Você imagina, então, um rapaz que desde os 11 anos era operário, office boy, tinha uma namorada chamada Ofélia e depois foi morar na mesma rua que eu morei casado. Essa menina, mulher agora, mas ninguém é como eu, ela foi morar na mesma rua que eu. Quer dizer, de repente eu tinha que buscar no Eros, tinha que pegar dentro de mim essa experiência de uma sexualidade que eu não tinha vivência, que eu não tinha como fazer memória emotiva de todas as minhas trepadas, não sabia qual foi a mais incrível, a mais clandestina. Isso que era um trabalho então de ator, não é? Porque você tem que trazer um material com base na tua imaginação e não com base na psicologia. Não com base na experiência vivida, mas com base no imaginário, então quando pegou no imaginário eu pus meu corpo a serviço do imaginário, não tinha outro caminho, era Grotowski. Só que eu também não sabia quem ele era.
Eu fui para o curso lá em Nancy, e por acaso Grotowski vinha para fazer um estágio do mesmo curso. Eu era aluno, ele era o professor.
E aí, então, depois da minha experiência com o Antunes fazendo Pimentel, que não tinha método, não é, era loucura do Antunes – depois o CPT cria método -, mas até ali eram os desvarios, digamos assim, de um começo de década de 60, tava todo mundo caminhando pra o que foi maio de 1968 no planeta Terra. Que aí, sim, era uma maravilha, o mundo inteiro se mobilizou em termos de acabar com establishment e levantar uma juventude internacional.
O Grotowski chega e põe então o dedo onde ele tinha que pôr, que é no interior do intérprete. Aí eu fui fazer uma cena de Romeu e Julieta com uma bailarina, que nem atriz era, era uma bailarina da Dinamarca e foi a primeira entrada no universo de muita vibração, de muito ritmo que resultou numa hemorragia nasal, perda de sangue, e foi a primeira vez que eu consegui então desprender né, sair. Isso que aqui na Bahia acontece de uma forma quase corriqueira, digamos, porque o Orixá chega e a pessoa se presta pro santo.
Então não tinha santo, não tinha candomblé, não tinha religião, não tinha nada, é um fenômeno que acontece, não precisa ser na religião, pode ser em qualquer circunstância, pode ser no ensaio mesmo, de a gente entrar e buscar alguma coisa que tá no recôndito do ser, que não está visível, que não está palpável, que é alguma coisa que tá querendo vir, mas que depende de circunstâncias, depende disso, de que as circunstâncias favoreçam a ocorrência da experiência, para mim, falar fenômeno, de uma experiência. Então durante muito tempo eu acreditei que a universidade pudesse ser isso, voltei pra EAD em 1970, depois da experiência na França, voltei à USP, voltei não, ingressei na USP, fiquei como professor em dois níveis (superior e técnico).
De repente, isso é importante agora, acho, que salientar, é que se não fosse as escolas, para mim, não existiria teatro, meu caminho teria ido para outros lados, para outras coisas. O teatro permitiu vazões, digamos assim, permitiu desagues, deltas de afluentes, digamos, do subconsciente para o consciente, mas poderia ter sido sem o teatro, eu fico feliz que tenha sido no teatro, porque eu adoro o teatro, mas eu fico também pensando que era irreprimível, a partir de uma certa idade, aquilo não podia mais ficar guardado, tinha que vir pra fora.
Então nesse sentido, o Grotowski fez um papel preponderante porque, como ele tinha método, como ele tinha décadas de teatro laboratório, então ele me oferecia, não a mim, ele oferecia ao mundo, um teatro, um trabalho de ator que podia ser partiturizado, ou seja, a partir disso você tinha um sistema para interpretação e isso era maravilhoso. Isso não acontecia com o Antunes, com o Antunes você tinha aquele (faz um grunhido) na frente do público, acontecia e, no dia seguinte, se estivesse vazio não rolava nada, porque não tinha partitura, não tinha as etapas, não tinha os degraus que você tinha que pôr o teu pé, digamos assim, usando a imagem do degrau, pra ir galgando o teu personagem e a tua experiência de entrega pra plateia. Claro, isso daí, durante muito tempo, décadas, no Brasil foi tirado muito sarro, porque o termo que o Grotowski usa no Brasil não é próprio, que é a “auto penetração”, então, para eles lá, auto penetração é corriqueiro, não tem nada a ver com sexo. Mas quando você fala em auto penetração no Brasil, já entra um componente erótico que desvirtua completamente o sentido da palavra, da experiência, entende? Quer dizer que, quando eu volto para o Brasil, eu acreditei que pudesse fazer isso na EAD.
Mônica Sucupira: Celso?
Celso Nunes: Vai.
Carla Hossri: Mônica? Ainda tem alguma coisa? Quer complementar?
Mônica Sucupira: Pode continuar.
Carla Hossri: Posso ir pra Ana?
Mônica Sucupira: Não, o Celso ia complementar sobre a EAD, deixa ele complementar.
Carla Hossri: Ah, desculpa. Vamos lá Celso, desculpa.
Celso Nunes: (risos) É só então que, quando eu cheguei na EAD, já me puseram, porque – esse lado eu ainda não falei dele e ele é o mais importante -, é que quando a minha carreira de diretor foi muito bem e, já no primeiro ano que eu cheguei no Brasil, eu já ganhei prêmio Molière e já consegui fazer cinco direções profissionais em um ano, sem ter nome nenhum, aí o que aconteceu foi que a escola ficou num plano secundário de interesse, porque começam a te chamar. No primeiro ano você chega e já o Fernando Torres te chama, no segundo ano já é a Fernanda Montenegro e o Paulo Autran. Agora você tá lá nos seus 27-29 anos, ninguém te conhece, você está há 4 anos fora do teu país e tem a Fernanda Montenegro te chamando para dirigi-la. Aí você fala: “Não, calma, pera aí, não posso Fernanda, porque eu tenho que dar aula no barracão B9 de noite na cidade universitária.” Não! Você vai levando a escola na medida do possível, porque tem esse lado normal de você querer se jogar, digamos, na aventura da criação. E ter, então, uma mulher como a Fernanda, ou um ator como o Fernando, todos com quem eu trabalhei, Renato Consorte, Sylvio Zilber, nossa! Lineu Dias, Zanoni e a ex-mulher, a Regina, Jandira Martini, Eliana Rocha, Neyde Veneziano, vem todo mundo, vem na palma da tua mão querendo que você diga pras pessoas: “Faça assim, faça assado, vá por aqui, vá por ali, vamos montar a peça assim, vamos montar a peça assado”.
Então eu tive que conciliar o tempo todo a vida profissional e o lado da universidade, então para isso eu precisei de me assessorar. Não podia fazer isso na EAD, que os quadros já estavam formados, não podia fazer na ECA também, porque os quadros docentes já estavam formados. E aí, a Marlyse Meyer, que tinha visto alguns espetáculos meus, indicou minha pessoa para o Rogério Cerqueira Leite da Unicamp, no momento em que o Zeferino Vaz estava sobrevoando aquele cafezal todo para escolher onde ele ia plantar o barracão da reitoria. Então, pronto, eu saio da ECA, saio da USP e vou pra Unicamp com mais quatro pessoas, um dos quais faleceu recentemente, uma pena, o Benito Juarez. Então tinha a Marlyse Meyer que cuidava de Cultura Popular, o Benito Juarez. O Natan Schvartsman, que tocava violino, um professor de Filosofia e Estética que vinha de Brasília, o Lu Brandão e eu. Nós cinco é que demos, então, início ao Instituto de Artes, era um instituto que não era faculdade nenhuma, não ‘tava departamentalizado, era só um núcleo de pessoas para pensar arte dentro do campus que ia se formar. Tudo ia se formar, ia derrubar capim, ia cortar aqui e acolá, deixar as árvores, aplainar morros e começar a fazer os prédios da Unicamp nesse momento. Então a minha vida foi sempre tentando conciliar a carreira artística com o ensino de Teatro.
Mônica Sucupira: Celso, como que é esse começo lá na Unicamp, do curso? Você já foi com essa ideia de formatar um curso de Artes Cênicas quando você fundou esse IA? Quando você movimentou… (comentários sobre problemas técnicos)
E nesse momento em que você formaliza o Instituto de Artes, o IA na Unicamp, como que foi essa formatação do curso de Artes Cênicas? Foi próximo disso, foi depois? E já aproveitando, pra não precisar interromper, qual a relação do Pessoal do Victor com você nessa formatação do curso, teve isso? Por que é importante a presença deles?
Celso Nunes: Bom, no começo eu fui sozinho para lá sabendo que sozinho eu não podia fazer teatro, e também com uma experiência que eu já tinha no teatro profissional de não querer me vincular um grupo de teatro amador de Campinas, não por nada, porque simplesmente eu ia de São Paulo e não conhecia ninguém em Campinas, a única pessoa que eu conhecia já desde a EAD era o Luiz Otávio, porque lá para 1973/74, se eu não me engano, eu deixei a USP, em 75 pra 76, acho que em 74 aparece um menino, era um menino careca, mímico, pra fazer escola de arte dramática com uma bolsa dada por um órgão de Campinas e era o Luiz Otávio, ele foi meu aluno. Ele era gente muito fina, era um excelente mímico e nós não tínhamos um curso de mímica especializado para oferecer ao Luiz Otávio, mas ele ficou lá uns meses e também conseguiu, depois, sair e foi fazer uma bolsa por mímica fora do Brasil, na Europa e eu perdi contato com Luiz Otávio. Mas, quando eu estava no Instituto de Artes eu não pensava no departamento, porque eu já tinha estado no departamento da USP durante cinco anos ou seis, e na Escola de Arte Dramática também, durante cinco ou seis anos, e eu via que ali não daria de jeito nenhum para eu desenvolver esse trabalho de pesquisa do ator, porque cai no departamento, cai no horário da aula, começa tal hora e acaba tal hora, etc. e tal. Então, eu não tinha vontade de criar um departamento lá na Universidade, e comecei então a pedir recursos, então o reitor na época me chamou e falou: “Olha, eu vou te oferecer três assistentes de Doutor”. Porque também tem o dado que, para eu poder ficar na carreira, eu tinha que fazer mestrado, doutorado, como eu fui fazendo tudo isso na USP. Então eu fazia a minha carreira acadêmica na USP e a aplicação do meu trabalho e do meu conhecimento na Unicamp. Aí, em vez de contratar três assistentes de Doutor, eu propus que eu contratasse o núcleo de teatro com quem eu trabalhava em São Paulo já há alguns anos, que era o Pessoal do Victor, pra me assessorar na formação de um eventual futuro departamento, que não era minha vontade, a minha vontade era um núcleo de pesquisa nos moldes do que eu sabia que o Grotowski fazia lá na Polônia. Isso é que era a minha coisa, ele me disse isso. Antes de a gente se perder de vista e quando eu falei para ele “eu acho que eu não posso parar, eu acho que eu tenho que ir pra Polônia”, ele falou: “Mas teve o AI-5 e não tem como, porque, pra Polônia receber você, tem que mandar um polonês para o Brasil, e o teu governo não está recebendo estudantes de países comunistas”. Tudo isso a gente trocou em cartas, no curso na hora da despedida ele me consolou falando assim: “Olha, vai, muito do que você tá procurando você vai encontrar lá na cultura afro, lá no Brasil”, então ele me orientou nesse sentido deu esse toque. Porque aquele exercício que eu sangrei e tudo ainda tava muito presente, até nos alunos, teve pessoas que saíram dos seus lugares e vieram lá, me entregar lenço para cobrir o sangue, acharam que eu tava morrendo, não tava, eu tava vivendo.
Então, eu me permiti em vez de chamar três assistentes de doutor, que naquela época já poderiam ter sido, digamos, alguns nomes que acabaram indo depois como Márcio Aurélio, Neyde, que já estava também fazendo suas teses. Eu preferi levar o pessoal do Victor, que não tinha titulação nenhuma, mas que, como o núcleo de pesquisa e trabalho podia funcionar, e no mesmo momento eu falei: “agora corram se graduar, façam bacharelado, façam mestrado, que é para vocês poderem permanecer aqui e a gente criar um trabalho com alguma raiz”. Ao mesmo tempo Luiz Otávio, que estava lá pela Suíça e, casado, com um filho, que acho que nem era dele, era da moça, ele ainda não tinha tido o filho dele que acho que foi no Brasil. Luiz Otávio me escreve porque, como meu nome estava muito proeminente na direção, Luiz Otávio faz um contato dizendo que tava querendo voltar para o Brasil e eu sabendo que ele é de família campineira falei “venha, aí você colabora conosco junto com o pessoal do Victor”. E assim ele veio, mala e cuia, e quando ele chegou ele não tinha também como ser contratado de imediato, então eu o convidei para fazer assistência de direção comigo do Rei Lear no Rio de Janeiro, fui pro Rio de Janeiro, dirigi o Rei Lear, levei o Luiz Otávio comigo e o Luiz Otávio fez um trabalho excelente com o elenco, tinha mais de 30 atores, eu acho, no total, porque eu pedia aos técnicos que fossem fazendo os figurinos que também viessem fazer as aulas de Psicofísica junto comigo e Luiz Otávio, então foi tudo direitinho. Ainda dei um papel de coringa pro Luiz Otávio, sem texto, dentro da peça, pra ele conseguir ficar aquele ano trabalhando contratado, com salário, porque ele também trouxe a moça com quem ele vivia, que não era brasileira, peruana, boliviana e o filho, e esperando a contratação dele. Só que, como Luiz Otávio é Burnier e Burnier é campineiro, que como o reitor era Pinotti e também lá de Campinas, e Pinotti é médico e o pai de Luiz Otávio é médico, teve ali um “trancetê” de pauzinhos pra que pudesse, o Luiz, fazer um núcleo pessoal dele, e não ficar como professor do departamento de Cênicas, que o Pinotii falou: “Então, vocês que têm o núcleo Pessoal do Victor viram o departamento, e o Luiz Otávio cria um núcleo de pesquisa, o Lume”. Então foi assim que a coisa bifurcou, quer dizer, nós, que éramos o núcleo de pesquisa do IA, fomos nos departamentalizar e criou-se um núcleo de pesquisa junto, tanto que, quando eu me afastei para fazer doutorado, Luiz Otávio é que me substituia na chefia do departamento. Só que, depois, apressou lado do Lume, ele começou a querer trazer o Eugênio Barba, ele estava certíssimo de fazer tudo que fizeram e fazem, mas eu digo que sobrou para nós o lado mais burocrático, mais massivo, digamos assim, do trabalho. O que me ajudou nisso foi que eu já tinha então a experiência da Sorbonne, eu já tinha feito os três anos de EAD, eu já tinha estado seis anos na ECA, eu já tinha visitado “n” escolas de teatro em Portugal, na Espanha, no Alasca, nos Estados Unidos, de norte a sul, de leste a oeste, a convite do governo americano, então eu já sabia mais ou menos o que que eu queria com o departamento de Cênicas e comecei a centrar o departamento na formação de diretores, porque já se oferecia, em São Paulo, pela EAD, um curso de interpretação que dava graduação suficiente para o DRT. Não precisava mais do que aquilo para ter o registro da Delegacia Regional do Trabalho, quer dizer, a pessoa ia a São Paulo, fazia escola e podia se cadastrar como profissional, mas acontece que não tinha demanda para curso de direção em Campinas, aí então a gente falou: “olha a grande parte dos alunos que procuram, eles estão querendo fazer teatro, querem fazer interpretação”. Então a gente pegou e falou: “então vamos criar um curso de interpretação no nível que a EAD não oferece e nem a ECA”, porque eu também estava na ECA e sabia, tudo isso é esse momento de transição de sair da EAD, de sair da ECA, ir para a Unicamp e tentar implantar na Unicamp um curso que não fosse oferecido pela USP no nível de bacharelado. Então a gente falou, bom, interpretação com diploma superior a USP não oferece, vamos fazer isso aqui na Unicamp. Foi assim que a gente começou a implantar e, então, poder contratar professores para áreas que os próprios integrantes do pessoal do Victor não podiam dar, eles não tinham formação.
Carla Hossri: A minha pergunta você mais ou menos já respondeu, mas uma coisa que eu gostaria de saber que é: você frequentou, você visitou escolas do mundo inteiro – eu nem sabia que você tinha visitado escola no Alasca, achei incrível, eu nem sabia que tinha escola lá, de atores-. Agora, quando você visitava essas escolas, o que você via? Qual a essência, o diferencial que você queria trazer pra Unicamp, vamos dizer assim, na ementa? É claro que você queria centrar no ator, né, pelo que você falou. Mas, qual o diferencial que você trouxe pra cá? Porque tem um diferencial da Unicamp para o ator, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Celso Nunes: Olha, primeiro de tudo o grande diferencial que eu teria adorado levar e nunca conseguimos é a infraestrutura, porque as escolas que eu frequentei elas são mínimo como é hoje, por exemplo, nessa escola de dança que funciona ali no Bom Retiro em São Paulo, quer dizer, tem espaço, espaço bem preparado, tem salas de aula excelentes, tem refrigeração, o ar é controlado, você pode regular a temperatura de acordo com a natureza da matéria que vai ser oferecida, se você vai fazer um trabalho de corpo você pode resfriar um pouquinho a sala, se você tá numa aula teórica, você pode até desligar o ar. Então, esse tipo de coisa para Campinas, que é um lugar muito quente, era bastante importante porque eu vi isso em Nancy, na Sorbonne, no Alasca, em Mineápolis, em Nova York, em Paris, onde eu fui os cursos eram muito bem instalados. Então eu queria muito que isso acontecesse, que a gente tivesse na Unicamp um departamento com excelentes salas, com locais onde os alunos tivessem privacidade, onde não ficassem passando pessoas, onde não tivesse que haver compartilhamento de espaço, como eu fui obrigado a aceitar durante muito tempo com a dança, por exemplo, ali no pavilhão. Então, a minha primeira vontade era chegar no Brasil e conseguir recursos para montar uma escola de teatro que fosse nos moldes das escolas que eu conhecia, primeiro. Segundo, eu tinha uma confiança, tenho até hoje, de que no nível humano a gente tava ali paripassu com os alunos do mundo todo, até com certo handicap favorável a nós, que é a espontaneidade, que lá para estudantes, digamos, do Hemisfério Norte, eles são muito mais obedientes, eles são muito mais pragmáticos e eles vão menos nesse campo da busca do conhecimento, do autoconhecimento, não é? Ou do mergulho em si mesmo, quer dizer eu acreditava que se eu trouxesse para o Brasil uma escola bem estruturada, fisicamente falando, e pudéssemos então melhorar a oferta de trabalho centrados na pessoa, eu conseguiria grandes atores saindo da Unicamp, e foi esse o caminho aonde a gente mergulhou, de início era isso que a gente queria. Mas no momento que departamentalizou começa aquela coisa que tem que ter cada hora aula, cada matéria tem que ter 4 horas por semana, e se não é assim, depois você não tem grade curricular para poder aprovar a certificação, não dava para manter duas caras, do tipo um departamento faz de conta, e a gente se lançando em pesquisas e trabalhos no campo de menos estrutura acadêmica. Então tinha que ter uma estrutura acadêmica e como conciliar, então, a vontade de pesquisa com a estrutura acadêmica?
Eu acho que nesse sentido o Lume pega parte desta aspiração e começa a desenvolver um pouco esse lado que eu acho que, se o Luís Otávio não fosse filho de médico, e o Pinotti também não fosse filho de médico, e não tivesse criado o Lume, eu acho que ele teria trabalhado com toda energia dele e conhecimento junto, dentro do departamento, não é, eu teria adorado que o Lume fosse o próprio departamento e o departamento fosse o Lume para juntar “li com lé” ali, eu acho uma pena a dissociação, não sei hoje, com décadas passadas, o que frutificou ou o que permeou de um para o outro, mas de qualquer maneira, quando eu deixei a universidade, eu lamentava um pouco isso, quer dizer lamentaval imensamente a morte do Luiz Otávio, e lamentava que aquela energia toda não viesse, quer dizer, quando o Luiz Otávio morreu eu perdi um amigo, uma pessoa de minha confiança, a gente sempre se deu muito bem e depois ele casou, aí teve a Denise, aí teve o filho e era inimaginável que ele fosse morrer, inimaginável, ele não era viciado, ele não era louco, foi incompreensível aquilo, parece que deu uma contratura na coluna, todo mundo na época especulou que era AIDS, porque tava na moda, assim, artista morrer de AIDS, eu acho que não, eu acho que foi um tipo de uma meningite.
Carla Hossri: Parece que foi uma hepatite C, não foi?
Celso Nunes: É, que seja, como foi o pai que cuidou dele, então entrou uma nebulosa.
Carla Hossri: Entrou uma nebulosa.
Celso Nunes: Porque o pai é médico. Ele entrou num campo que com a pergunta sai da ética, então não dá pra falar.
Carla Hossri: Sim. Celso, enquanto a Mônica toma água, deixa eu falar uma coisa que comentamos muito aqui, você diz que às vezes tem gente que não atingiu o que você queria no departamento, na instalação, mas pelo menos as primeiras turmas que a gente tem se falado, a gente sente que teve um preparo tão bom, tão carinhoso, tão bacana e livre, o que é difícil, né? Que eu acho que é bem diferente da ECA, da EAD, que eu acompanhei alguns colegas. Livre no sentido: você vai estudar, você vai procurar o seu caminho, você vai fazer a sua cena, você vai dirigir e quando a gente chega em São Paulo a gente fica feliz de descobrir que: “olha, eu sei, eu já experimentei, eu já fiz”, e que a gente se sente parte, já, desse mundo do teatro. Então, quanto a isso, eu acho que o papel dessa Universidade, desse tempo, desse período, foi completamente cumprido. Mônica, você levantou a mão, queria perguntar?
Mônica Sucupira: Eu acho que as primeiras turmas, elas têm esse sentido de pesquisa, de imersão, eu não sei se foram os professores, se foi a direção, mas eu acho que a gente aprendeu, a gente se profissionalizou dessa maneira, no sentido da pesquisa, da imersão, do trabalho de aprofundamento, principalmente o trabalho de corpo. Eu acho que todos nós temos essa consciência. Muito importante isso, saber que as primeiras turmas realizaram de alguma maneira isso.
Carla Hossri: Lindo! Aninha?
Ana Célia Padovan: Eu tenho algumas questões, mas acho que até emendando nessa, eu vou dar uma puladinha e depois eu volto. Eu acho que, assim, a perspectiva do curso de Teatro ela já permite que a gente tenha uma possibilidade de descolonização né? De fazer as coisas em função de um mergulho no núcleo e na pessoa, do núcleo que se forma, das pessoas em direção às pessoas, então eu queria perguntar isso, assim, para você, né, como é que você vê a universidade nessa perspectiva descolonizadora, assim, fora dos padrões, se você acha que a faculdade de Artes Cênicas ela facilitou, ela fez essa ponte (para) que, a universidade, ela pudesse ter esse academicismo, que é muito mais fácil você repetir o padrão do colonizador, se a gente, na faculdade de Artes Cênicas, essa ponte para descolonização, ouvir mais o humano e a cultura genuína do povo brasileiro, entende? A faculdade de Artes Cênicas é uma ponte, assim, no seu ver… como você encara isso estando dentro de uma universidade, inclusive, né? Não sei se foi possível entender a minha questão, mas seria isso, como você pensa essa relação do saber formal e do saber informal que a universidade tem, diante dessa perspectiva até que você trouxe né, de transformar em um núcleo de pesquisa, essa ponte entre esse saber formal e esse saber informal, como você pensou isso na criação do curso?
Celso Nunes: Primeiro respondendo assim, grosso modo, eu acho, sim, que é papel da universidade, das universidades, universalizarem. Oferecer o máximo dentro daquele ramo que a pessoa procurou, então, eu não tenho a menor dúvida que a descolonização vem junto com o papel da universidade, porque a pessoa chega, ela ainda não sabe, ela procurou porque ainda não sabe, ela vai receber a informação e essa informação que ela recebe precisa estar de acordo com os anseios dela, não é só o formal da experiência do aprendizado, a pessoa chega trazendo ela e, aí, ela vai receber informação, bibliografia, técnicas, etc., não tô nem pensando exclusivamente no teatro, pensando médicos também, pensando em engenheiros. Quando a pessoa chega ela traz ela, ela tá jovem, ela vem com um pouco do que ela pegou do preparo para o vestibular, mas ela chega ali, ela que está ali, é o ser que chegou então não é justo colonizar, porque vai embutir, vai fazer aquela experiência que eu acho que eu tive quando eu era muito pequeno, muito criança, que é de virar robô. Quer dizer, tudo que era colonizado escapa do essencial, escapa do fundamental, escapa do eixo, do prumo, porque vem de fora para dentro. Agora é lógico que também você não pode ensinar sem instrumentar, dar toda a bibliografia necessária, toda informação, as fontes do conhecimento, mas isso não pode ser mais forte do que a vontade da pessoa de emergir, mas ela só vai emergir, de fato, na medida em que ela fizer isso que tá na linha de trabalho do laboratório do Grotowski, que é ir pra dentro dela, ela tem que mergulhar nela para poder emergir e receber tudo que ela tem que receber, sem sucumbir ao formal. Vamos pegar um exemplo que é fora, talvez num campo um pouco mais… nem é místico, mas enfim, a gente tem duas relações com a questão do tempo: uma é com Cronos, que é lá na antiguidade da Grécia, é o Deus do tempo; e a outra relação do tempo que a gente tem é com Kairós, que não é o tempo cronológico de Cronos, é o tempo de Deus, que não se mede. Então, quando a pessoa existe, ela existe em Kairós, o que permite que eu esteja agora falando com vocês como se fosse há 20 anos atrás, não é? Nós não temos especialmente interessados na passagem do tempo para cada um de nós, nós estamos falando com pessoas que amam uma mesma coisa e que têm interesse de entender melhor isso, sem perder o que já localizaram dentro de si e querem fazer para melhor… melhorar esse entendimento.
Então Kairós é o tempo da aproximação, é o tempo de Deus, é um tempo onde não há distâncias mensuráveis, você encontra a pessoa na mesma hora que ele dá um toque e você “ah” (som de surpresa) como se não tivesse passado tanto tempo, e o tempo de Cronos é esse que passou, sim, lá de 1990 para hoje passaram-se três décadas e essas décadas contam nas nossas peles, na força do nosso olhar ou no enfraquecimento do nosso olhar, no gesto. Esse é o tempo de Cronos, que é o tempo onde pode se situar tudo que é matéria, tudo que é formal, tudo que é mensurável, já o tempo de Kairós não é mensurável, não tem como medir. Por exemplo, desse seriado que tem sobre o Tutancâmon na National Geographic, não sei se vocês chegaram a ver, porque tem uma coisa muito louca né, na tal múmia, é que eles abriram aqui pra tirar o coração da múmia antes da mumificação. E, no caso, Tutancâmon foi aberto lateralmente, Tutancâmon é pequenininho, talvez ele tivesse um defeito na perna, mas ele aparece sempre em coisas incríveis, desenhado nas carruagens como um guerreiro montado naquelas bigas, disparando flechas no inimigo, participando de grandes batalhas, esse é o tempo de Cronos, onde aparece um rei guerreiro. Mas, ao desencavar, tirar a múmia lá de baixo é tudo o contrário, ele era o ser Tutancâmon, não tem nada a ver com o mito Tutancâmon, né? Então, esta coisa do ser é que eu acho que foi procurado o tempo todo entre amigos, não é? Porque o grupo inicial, o Pessoal do Victor era muito amigo, eram pessoas que tinham entrado pra EAD levando essa piração que as pessoas que entram na cênicas da Unicamp também trazem, tinham ficado ali na EAD três anos e eu fiquei com eles os três anos, indo do primeiro, para o segundo, pro terceiro, como se também fosse aluno. Talvez essa experiência tenha calado, porque não fiquei naquela coisa do professor do 3º ou do 4º ano, que recebe os alunos para fazer a montagem final, eu falei: “olha, para eu ficar aqui, eu quero pegar a turma na pegada, e quero deixar a turma na saída, depois que já foi a experiência”. Então o Pessoal do Victor se formou assim, entrou aquele grupo, eu fui lá com eles no primeiro ano e virei o professor de interpretação do primeiro ano, quando eles passaram para o segundo ano eu passei para o segundo ano, e entreguei a nova turma para outro professor, que foi fazer o mesmo trajeto que eu. Digamos, modéstia à parte, eu inaugurava isso na EAD. Quando a turma foi pro terceiro ano, eu fui com eles para o 3º ano, o que nos permitiu ver, no primeiro ano, teatro clássico, Grécia, Roma, e chegar até a Idade Média. No segundo ano a gente foi para a Idade Média e entrou no Renascimento, e foi pegando, então, do teatro renascentista o que era parecido com o teatro clássico, e o que já podia ser desdobrado para distanciamento, entrando com teatro oriental. E, quando chegou no terceiro ano, a gente já tinha, então, o binômio formado: Stanislavski, Brecht; distanciamento, não distanciamento; imersão ou raciocínio, consciência. Então, aquela turma viveu três anos essa experiência comigo, se tivesse cinco anos, eu ficaria com eles cinco anos. Então essa turma era o Paulo Betti, Eliane Giardini, o Waterloo, a Marcília, o Reynaldo… de quem que eu estou esquecendo? A Elisa. Alguns que não ficaram na Unicamp, porque não podiam.
Carla Hossri: O Wanderley?
Celso Nunes: Quem? Não, o Wanderley veio muito depois. Não. Paulo, Waterloo, Isa Kopelman, Yaakov Hillel…
Ana Célia Padovan: Márcio Tadeu?
Celso Nunes: Márcio Tadeu. De paixão o tempo todo. Era um núcleo de umas sete pessoas.
Carla Hossri: O Adilson Barros?
Celso Nunes: Veio depois. Adilson veio já Na Narreira do Divino e nós começamos uns três anos antes disso.
Ana Célia Padovan: Maria Lucia Candeias veio depois?
Celso Nunes: Não tinha pavilhão, não tinha nada, era no campo, era no mato, no capinzal “tal” que a gente se encontrava com as pessoas que gostavam de teatro e, ali, então, no capinzal mesmo, é que a gente falava, experimentava, fazia exercícios. Eu acho que hoje eu seria um cara “tranchan” pra fazer isso, por causa do rolfing, porque eu fazia o que eu tinha aprendido com o Grotowski, mas eu não sabia mexer, eu sabia falar, mas eu não sabia mexer. Hoje eu sei tocar, hoje eu sei ir, pegar, mostrar no corpo. Se não tivesse o problema de Cronos e se eu não estivesse para fazer 80 anos, era o lugar para eu ir, entende? Ficar lá, agora com esse conhecimento de anatomia, das doenças, a fisiologia das doenças, porque que a gente adoece, como que as doenças vão se instalando no nosso corpo, essa é a hora de você pegar o ator e transformá-lo nessa coisa que o Grotowski diz ser um santo entende? De ser uma pessoa saudável em tudo, no espírito, no corpo, na alma, no sentimento, de ser um santo, que mais a gente pode falar?
Mônica Sucupira: Linda essa imagem.
Celso Nunes: É, essa é a imagem. Essa é a procura, de busca, que você… talvez você morra sem enxergar, mas pelo menos você pôs o pé no caminho, você fez o que fazem os santos, você fez o que faz Santa Teresa, o que faz São Francisco, em função da arte, função da entrega de si para outra pessoa que não tem que passar necessariamente pela religião, mas tem que passar por um dogma, o dogma da entrega, tem que passar pelo outro, não é eu virando maravilhoso, não, é eu sendo, para lá, para fora, para outra pessoa, indo lá, indo lá, indo lá.
Carla Hossri: Eu tinha pensado assim, eu aprendi demais com o trabalho psicofísico, com você, com Luís Otávio, assim, é uma alegria, eu me sinto uma privilegiada. Eu lembro muito de você, Celso, todo dia quando eu vou dar aula, você é sempre muito presente, de verdade. E aí você pega todo esse trabalho vai para o rolfing, então me parece que esse trabalho do rolfing é uma continuidade desse trabalho do Grotowski. E, mais uma coisa você já chegou a trabalhar esse método do rolfing com atores ou você só gostaria de, mas não chegou?
Celso Nunes: Não, não dá para trabalhar com atores porque o rolfing ele passa por uma estrutura formal, ele tá preparado, vamos falar na linguagem teatral, como se fosse a partitura, a partitura do rolfing são 10 sessões, essas sessões têm que ter entre uma 1h, 1h15, mais ou menos, de aplicação de trabalho do rolfista, e ela é pessoa por pessoa, quer dizer o rolfing é absolutamente maravilhoso para atores fazerem, mas teria que ser num trabalho um a um. Quando eu entrei pra EAD, lá em 1962/63, o Doutor Alfredo, que Deus o tenha, porque era um santo. Doutor Alfredo era santo, entende?
Doutor Alfredo tinha na escola um psicólogo, Doutor Pedro Balas, e como a gente vinha da classe média baixa, a grande maioria filhas de operário, como eu, e querendo fazer teatro, e como o mundo falava “é viado, é puta, quem faz teatro não presta, isso daí não é lugar para você meu filho, etc.”, o Pedro Balas, que era um senhor, acho que de origem Ucraniana, chamava de acordo com o teu desempenho no curso, porque você ‘tava sendo observado. O Pedro Balas falava: “você pode amanhã vir no meu escritório?” e te dava o endereço, às vezes na clínica de psicologia dele, quando não, numa sala de aula da própria EAD, no pavilhão da Avenida Tiradentes, onde hoje é a Pinacoteca. Daí o Pedro Balas ficava uma meia hora ou uma hora com você, numa sessão de Psicologia, onde ele te situava em relação à tua vontade, ao teu desempenho, à tua eventual agressividade, ao teu desânimo de querer abandonar o curso… esse tipo de coisa era feito em termos psicológicos, quer dizer que se um departamento de verdade, não é?… para pegar uma pessoa em toda sua complexidade, na sua totalidade humana, pudesse oferecer rolfing, aí era sim queijo na sopa, sabe? Aí é aquela coisa que desmancha, funde, feito queijo na sopa. Então você pega o aluno durante uma hora, uma vez por semana e trabalha a partir da sola do pé até a raiz do cabelo, esse é o rolfing. O rolfing em 10 sessões te leva da planta do pé ao couro cabeludo. Cada sessão é um cardápio, um menu e você vai seguir como o rolfista aquele menu, você não tem como sair fora do menu porque se você sair o cliente não te acompanha, porque ele tá no processo, você tá enxergando a décima sessão, ele não, ele tá naquela sessão dele, e você tem que respeitar isso.
Mônica Sucupira: Eu quero só cortar um pouquinho você, tem uma surpresa, tem uma amiga nossa, uma colega sua, uma professora nossa que quer te dar um oi, vamos chamá-la.
(risos)
Neyde Veneziano: Tudo bem? Está meio travando a minha, não está não?
Todos: Não, está ótima!
Celso Nunes: Você tá linda com esse cabelo e essa blusa. Arrasou!
Neyde Veneziano: É cabelo de pandemia, não cortei mais
Celso Nunes: Combinando com a blusa, tá lindona, lindona.
Neyde Veneziano: Você tá bom, tá tudo bem? Eu ouvi metade da conversa, eu não ouvi tudo e elas não queriam parar mais de tanto que você tá explicando e falando coisas importantíssimas! Aí, essa história toda aqui nasceu de um grupo, eu não sei se elas te contaram, mas o grupo que a gente tem no WhatsApp, que a Mônica que batizou de Unicampenses Felizes e acho que eu fui uma das primeiras pessoas, dos professores, que entrou, também não tem muito professor vivo e mente sã, só nós, nós dois, e aí eu via tanta foto, tanta lembrança, tantas coisas que elas falavam, que eu sugeri fazer um arquivo com tudo isso que tava acontecendo no grupo. Só que elas foram além e inventaram de pegar o teu depoimento, que foi maravilhoso, e eu acho que o trabalho que elas estão fazendo vai ter um resultado que é muito importante. Concorda?
Celso Nunes: Total, concordo.
Neyde Veneziano: Eu estou muito feliz de te ver, viu?
Celso Nunes: Você está linda.
Neyde Veneziano: Você também está lindo, só nós que sobrevivemos. (risos) Tá tudo bem, tá tudo bem, obrigada. Mas foi muito bom te ver, tô adorando. Você ouviu toda a história que eu contei?
Celso Nunes: Ouvi. A Mônica já tinha me falado boa parte disso.
Neyde Veneziano: A gente tá aqui por causa disso, porque elas estão fazendo um trabalho que vai ficar importante, essas meninas são sangue nos olhos, viu?
Tem delay aqui comigo, que eu não sei o que tá acontecendo (pequeno resquício de diálogos travando).
Esse trabalho arquivista que vocês estão fazendo é maravilhoso e o Celso era a figura chave, porque ele que teve a ideia, ele que fundou o departamento, ele que chamou as pessoas. Eu ouvi ele contando a trajetória, eu sou da turma que entrou depois, eu entrei com Marcio Aurelio com Maria Lúcia e a Sara, a gente entrou acho que no mesmo ano não foi, Celso?
Celso Nunes: Foi. Foi sim.
Neyde Veneziano: A gente entrou depois, mas a gente, de alguma forma, a gente participou.
Celso Nunes: É. É porque a experiência lá no campus ela passa por liberação de verbas. Então não dá pra você falar “Ah, vamos chamar a Neyde”, tem que esperar uma hora que tenha um determinado orçamento e aí você decide como usar, não é?
Aí Neyde, Maria Lúcia, acho que Márcio Aurélio foram mais ou menos na mesma época.
Neyde Veneziano: Marcio Aurelio e Sara.
(trecho indistinto com sobreposições)
Carla Hossri: Mônica, faz aquela sua pergunta, aquela última pergunta que eu quero ouvir com a orelha deste tamanho.
Neyde Veneziano: Meninas, eu acho que eu vou sair, porque por minha causa começou a travar tudo, estava indo bem. Bom domingo pra todos e super beijo!
Carla Hossri: Beijo, Neyde!
Ana Célia Padovan: Obrigada, viu?
Neyde Veneziano: Obrigada vocês, porque vocês estão fazendo uma coisa muito legal!
Celso Nunes: Oh, Neyde, não vá embora não!
Neyde Veneziano: Então eu vou ficar, mas eu vou almoçar. Meu filho tá aqui reclamando que eu não almocei ainda.
(falas sobrepostas)
Mônica Sucupira: Celso, só pra gente finalizar, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta geral que é o seguinte, o chamamento que você teve naquela época pro teatro, pra ir ao teatro, tem ainda hoje um chamamento que você receberia pra voltar ao teatro? Qual seria?
(conversa travada)
Mônica Sucupira: O chamamento que você teve para ir ao teatro, para entrar nessa profissão do teatro, para estudar, para conhecer é o mesmo chamamento que fez você sair do teatro? E qual seria um que te chamaria de volta? Você voltaria para fazer teatro hoje e qual seria, por que seria?
Celso Nunes: Bom, quer dizer, eu vou tentar responder essa questão da Mônica: pra sair do teatro não chegou a ser, assim, um chamamento, chegou a ser um “eject” não é? O destino preparou, empurra fora… porque eu comecei a passar por uma experiência de perdas que eu não sabia administrar e então começa a morrer gente, assim, que não podia morrer, ou que eu achava que nunca morreria antes de mim, e isso foi ficando insuportável e tive que ter uma conversa com a vida, que tinha perdido totalmente o sentido. Nada, nada, nada mais fazia sentido, não era o teatro, nada fazia sentido, estar vivo não fazia mais sentido. Então, não quer dizer que eu tive um chamamento, eu tive um empurrão, porque tudo me empurrou para sair de São Paulo, para abandonar a carreira, porque não tinha mais apetite nenhum pela vida, porque foram mortes muito traumáticas e muito terríveis e, de qualquer forma, que eu ainda carrego. Sentimentos não amadurecidos em relação a essa questão do morrer, né? Ainda não tá resolvido isso para mim, e o rolfing apareceu nesse momento, no momento em que eu estava trancado completamente, não sabia que estava, mas eu tava indo nos lugares porque as coisas aconteciam e as pessoas me chamavam e eu ia. Dessa forma foi que eu fui parar num coquetel de aniversário de uma prima da Christiane Torloni, que era em São Paulo, e aí, não sei se vale a pena eu me alongar, porque isso acho que já tá em algum lugar, já foi contado. Aí eu tô no coquetel, aí Christiane chega para mim e fala “olha, aquele cara lá é um bruxo” e me mostra um cara prosaico, pequenininho, com um capacete de motoqueiro aqui no antebraço, no buffet do coquetel, era um aniversário. Se servindo, ali, de comida no prato, para comer em pé, como todos nós estávamos, era um apartamento bonito, mas era um apartamento. Aí, eu falei “é mesmo?”, e ela falou “é, você acredita?”. Eu saí do Rio de Janeiro, ela tava fazendo O Lobo de Ray-Ban, que era uma peça com Raul Cortez, acho que escrita pelo Renato Borghi, se eu bem me lembro, e eles tinham vendido 400 ingressos e a Christiane, ao sair do Rio e chegar em São Paulo, não tinha mais voz, ela perdeu na ponte aérea. Então, eles iam ter que devolver os 400 lugares, a produtora chamada Rose Carvalho, que também é uma maravilha de pessoa, a Rose pegou a Christiane e levou num cara que trabalhava com bio energia que ela conhecia, e que é esse fulano que, depois, a Christiane me apresentou, o bruxo. Porque ela foi lá, e em 40 minutos o cara recuperou a voz para ela, ela voltou correndo para o teatro e fez a matinê de domingo e não precisou devolver o dinheiro, até porque Raul também tinha fama de ser um cara muito bravo, né? Ele discutia, brigava, ele não era fácil de temperamento, de falar “ah, não querida, você está afônica? vamos devolver o dinheiro”, não era assim. Então, fizeram uma matinê, aí Christiane esticou para o aniversário da prima dela, ao qual eu fui também, e de repente ela fez esse comentário e eu fui lá no buffet, ainda enquanto o cara tava se servindo e falei “oi, tudo bem? Gostaria de te conhecer”, e me apresentei, daí ele falou “é, quem sabe, você pega meu contato antes de ir embora e a gente tenta ver se encontramos”, eu falei “porque Christiane falou tão bem do teu trabalho, eu trabalho com atores e muitas vezes eles ficam afônicos, eu gostaria de aprender como devolver a voz para um ator”, é uma coisa que eu já estudei, um pouco de dicção como ator, também, mas eu não sabia fazer isso. “Ah, você me procura”. Bom, esse cara me evitou durante 8 meses e eu amargando com o meu “de mal” com o teatro, o meu de mal com Deus, o meu de mal com a vida, e eu não queria saber de nada, nada, nada, nada, eu tava de luto. De repente, de tanto eu insistir, ele um dia marca um encontro para eu ir encontrá-lo na casa dele, que não era bem uma casa, era um apartamento também, não era bem o apartamento, era uma clínica, mas totalmente, como dizer, assim, experimental, porque não tinha pinta de clínica, era uma coisa que tinha móveis de apartamento, tinha uma tapadeira, atrás da tapadeira aconteciam as coisas, tal, aí ele sentou e falou “um minutinho só, eu já venho”. Daí me deixou lá, sentado na sala e eu comecei a ficar nervoso, que ele não voltava mais, aí eu comecei a olhar assim e falar “tenho certeza que atrás daquele quadro tem um microfone, eu estou sendo observado”, ou então “não, acho que está no lustre”, aí tinha um lustre desses que faz assim, falei “não, acho que tem microfone no lustre”, e assim foi passando o tempo de 10 minutos, 15 minutos, a pessoa que te chama com hora marcada desaparece, entendeu? E você fica lá, fica lá, fica lá, daí ele vem, vem e traz um rolo de papel amarrado com uma fita vermelha, por acaso tem uma coisa aqui que é vermelha, assim, uma coisa vermelha assim, amarrando um rolo de papel muito esmaecido do tempo, aí ele falou para mim “você acredita em coincidências?” Eu falei “eu acho que é uma maneira de explicar certos fenômenos, mas acreditar em coincidência… eu não sou aquele que vive falando ‘nossa que coincidência’”. Aí ele falou “abre”, e eu já comecei a tremer, “não, pode abrir”, aí quando eu abro é um cartaz do Escuta Zé, que eu tinha feito anos antes, com Marilena, Rodrigo Santiago, tal tal tal tal tal tal, ele tinha um cartaz de um trabalho meu enroladinho, amarrado ainda na fitinha, o cartaz era cartaz-programa que, de um lado era Marilena, do outro lado era Rodrigo Santiago, que durante muito tempo teve esse quadro no departamento da Unicamp, o cartaz, assim, na parede. Eu falei “nossa”, ele falou “então, eu acho que você tá vindo aqui procurar o que você já me deu, porque minha vida mudou completamente quando eu assisti essa peça, até eu assistir essa peça eu era um empresário de fracasso, eu já tinha tido três ou quatro sócios, todos me roubaram, eu não percebia que estava sendo roubado, eu perdi dinheiro em todas as tentativas de ser empresário”, quer dizer, ele não era mesmo um bom empreendedor. Ele falou: “mas quando eu assisti a tua peça eu percebi que eu estava completamente errado em tentar tudo o que eu tentava, aí eu mudei completamente a minha vida, eu faço isso que eu tô fazendo hoje, que permite que você venha aqui dizendo que alguém me indicou como um bruxo, na medida em que isso funcionou para mim como uma bruxaria, porque eu passei a ser outra pessoa, essa peça funcionou como uma bruxaria para mim”. Bom, claro, eu comecei a chorar, e aí ele veio de onde ele tava, ele tava assim a um sofá de distância de mim, veio com o dedo dele assim, o indicador, apontou aqui ó, bem no osso esterno e falou para mim “por que que aqui você não tá respirando?” Ele já tinha enxergado, o luto, a perda, tudo, ele já tinha enxergado tudo eu é que não tinha nada. Quando ele botou o dedo aqui, aí que eu desmanchei, todos aqueles anos de segurar :“ai, tenho que fazer isso, tenho que dar aula, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo”, mas eu tô de luto, chorava na estrada, “tenho que fazer tal tal tal tal tal”, eu fiquei tão abismado com o que esse cara sabia, e com o que ele fez comigo ao longo de 8 meses de encontros semanais que, no final, eu falei “cara, Zé”, que ele chamava Zé, aí eu falei “eu não aprendi o eu queria, eu queria tirar a afonia de atores, você fez um trabalho inacreditável comigo”. A mulher dele de vez em quando atendia o telefone e falava “um minutinho, espera aí que ele vai arrumar um horário, ele tá adorando o trabalho!” Eu percebi, ao longo dos oito meses, que também estava sendo interessante para ele a experiência, não eu, a nossa experiência terapêutica em cima de bioenergia de cor e, não, nunca nem sentei lá para falar “ai, o dia que minha mãe morreu”, era um dos meus fatos, minha mãe tinha morrido e era uma das minhas histórias de vida “ai, o dia que o meu filho adotivo morreu”, também era uma história de vida minha, “ai, o dia que meu pai se foi” também era uma história minha, tudo isso tava aqui e ele aqui abriu tudo isso sem nunca saber se era mãe, se era pai, se era filho adotivo, quem é que tinha partido, mas ele lidou com os sentimentos. A biografia, a cronologia não interessava, estávamos totalmente imersos em Kairós, quer dizer, que no final eu falei “e agora? você tá me dando alta? Nós vamos parar de nos encontrar? A gente é tão amigo, e como é que vai ficar?” Ele falou “olha, você tem, para aprender”, ele falou, “você tem que procurar rolfistas, porque eles têm método” e foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Então, a partir daí deu 1986, eu tava convidado pelo consulado americano de São Paulo para inauguração de um estande americano na Bienal de São Paulo, eu tinha estado nos Estados Unidos, que eu falei, no Alasca, tudo a convite como bolsista, aí eles convidaram, me convidaram para a Bienal, eu fui. E quando eu tô lá na Bienal, uma amiga minha que adorava teatro, chamada Rose, me pega pelo braço e me leva e fala assim: “vou te apresentar um bruxo”, aí me levou para conhecer um outro cara. Ela falou “olha, esse daqui é maravilhoso”, não sei o que, não sei o que… eu falei “olha, ela tá dizendo que você é um bruxo”, aí ele falou “é, tem gente que fala isso de mim”, eu falei “que interessante, porque uma vez eu conheci um cara que me disse que também era bruxo”, ele falou “é né não sei o que…”, aí eu falei “então, mas como que você é bruxo?”, ele falou “não, eu não sou bruxo, eu sou rolfista”. Então, quer dizer, o cara falou você tem que procurar o rolfista e passaram-se meses eu não procurei e de repente alguém da Bienal me apresenta pra um rolfista, aí eu falei “ai, eu tô precisando mesmo falar com um rolfista”, pa pa pa pa, mesmo papo, tudo igual, “pega o meu contato antes de você ir embora, você me procura, vamos ver se a gente encontra”, e aí mais uma empatação de um ano. Eu procurava, “não, no momento ele não está, ele está nos Estados Unidos, no Japão, tá aqui, tá acolá”, e não recebia. Um dia liga uma secretária para mim, uma pessoa de uma associação que fala que é da Associação de Rolfing e “o seu nome está indicado como modelo de curso, você quer?” Eu falei, “eu não sei bem o que que é isso, mas em princípio eu quero, o que… do que se trata?” “Trata que você vai ter o compromisso que, durante 10 dias, ir numa fazenda do Estado de São Paulo para ser submetido a uma sessão de rolfing, mas não pode atrasar, não pode fazer isso, aquilo”, aí vem a partitura, todo protocolo que é do Grotowski, que era do Antunes Filho, CPT, “não atrase, leve a sério, se você atrasar você vai estar prejudicando outras pessoas” e dito e feito, quando você cumpre, tudo dá certo. Então eu assumi esse compromisso ou estaria na Unicamp ou estaria em São Paulo, eu tinha que me deslocar e ir para uma fazenda no interior do estado e lá, primeira vez que você chega, normal, entra numa sala, tem 40 pessoas com as pranchas na mão sentadas, completamente enigmáticas, ninguém fala com você, uns são louros, outros são negros, têm japonês, tem de tudo ali, todos com prancha, com máquina fotográfica, não existia celular, aí então fala assim “vai ali e tira a roupa”, aí tem um pano preto que parece uma rotunda assim, atrás, tem uma câmera fotográfica e do outro lado já tem um cara postado para fazer a sua foto, aí você tira toda a roupa fica ali, de sunga, aí ele tirou você de frente, de lado, de costas, de lado, e aí manda você para sala, aí quando você chega na sala começam a falar “pode entrar” e ninguém quer saber por que que você aceitou, por que que você foi, nada. Ninguém tem nenhum interesse na sua cronologia, porque eles já estão vendo a pessoa, eles são treinados para ver a pessoa, não interessa onde ela mora, que idade ela tem, nada disso interessa, nada interessa, interessa que olha e já vê o que tem que ser visto como que o pé tá chegando no chão, para, como você se descarrega no planeta, se é pro lado direito, o esquerdo, se você tá se descarregando por igual ou estão duas linhas verticais e duas linhas horizontais, não estamos mais falando de teatro e estamos, porque o ator em cena é igual o cara que tá ali na frente de todos os rolfistas, porque o público tem essa informação genética dele, então, se o ator para e fica um pouco assim, com ombro caído, o público percebe na hora, ele não fala “ele tá com ombro caído”, porque ele não é terapeuta, mas ele realiza na hora as horizontais, as verticais, que são traduzidas em harmonia ou falta de harmonia. Então isso pro ator é maravilhoso, só que isso não dá, porque a gravidade trabalha de uma forma a te puxar pro fundo, por isso que eu achei que, se vocês tivessem conseguido ver a entrevista do Luciano Ramos, aquela entrevista foi feita exatamente nesse momento em que nós estamos falando, a hora que eu tô deixando o teatro e tô indo pro rolfing. Ali estava Abujamra, Chico Medeiros, ‘tava Mara Reis, se eu não me engano.
Carla Hossri: Acho que nós não achamos, não é?
Ana Célia Padovan: É.
Celso Nunes: Que pena, tinha no DVD ainda, isso. Aí, tinha lá Chico Medeiros, tinha Elias Andreato numa mesa, me fazendo perguntas, e o Luciano Ramos fazendo a moderação da entrevista e ele já tinha sido rolfado. Então, eu que estava começando a estudar, ele já interpretava pra mesa o que eu tava tentando explicar, porque eu tava me formando em rolfing, então eles começaram a fazer essas questões “você tá saindo? você vai deixar o teatro? Pera aí, tem o Juca de Oliveira pra te fazer uma pergunta”, e aí entrava Juca de Oliveira, como entrou agora Neyde Veneziano. Então, quer dizer, para isso hoje voltar para o teatro você precisa de estrutura, de tempo, quem sabe, de preparar rolfistas para poder desdobrar essa experiência, porque você trabalha com os braços, com cotovelo, você trabalha com teu ser integral, você não pode fazer rolfing se você não for total no que você tá fazendo.
Carla Hossri: Celso, agora pra gente fechar aqui. O que faria, que projeto faria você voltar pro teatro? Pro teatro! Dirigir e tal.
Celso Nunes: Não sei, não sei, acho que não me dá mais tempo.
Carla Hossri: Como assim?
Celso Nunes: A idade pesa, a memória, o cérebro, não é, massa encefálica, tudo isso pesa, tudo isso conta, eu não sei, eu não tenho ideia, pode ser que eu me pusesse à prova e fosse perceber que estou na Fórmula 3, não estou mais na Fórmula 1, entende?
Eu não sei isso, eu não sei, só se por à prova, não dá pra responder, eu acho que só se por à prova, eu acho que eu fiz três peças aqui, porque quando eu operei o ombro, eu tive um tombo, operei este ombro direito, então quando eu fiz essa cirurgia precisei ficar um ano e meio parado com o rolfing, não podia mais atender, aí eu falei “putz, agora aqui nessa cidade eu não conheço ninguém, eu não tenho vida social”, nunca tive em lugar nenhum, nem em Campinas esses anos todos que eu morei lá, nunca tive vida social, nem em São Paulo eu tenho vida social, quer dizer, tive quando eu tava no auge da minha carreira por causa dos prêmios, então era bem, digamos assim, convidar os artistas premiados, mas vida social, ter turma, sair em turma, comer pizza, nunca, nunca, nunca, tanto que eu cozinho, eu faço a minha comida, não como fora etc. Aí, de repente eu fiz as três peças nos tempos que eu não pude atender como rolfista e foi super bem, um texto mais bonito que o outro, peças que eu tinha escolhido, eu que falei “seriam essas peças! Por essas três eu faria”, com uma verba exígua de R$ 130.000,00 para as três peças e com ganhos muito aquém do que eu ganhava quando eu tava de diretor na carreira, então para vocês terem uma ideia, aqui e agora, as peças, cada espetáculo pagou, eu chorando, R$ 5.000,00.
Mônica Sucupira: Nossa!
Celso Nunes: R$ 5.000,00 pra dirigir, quando na verdade na vida profissional, no eixo Rio-São Paulo, lá em 1980, o meu salário de direção era R$ 40.000,00, quer dizer, 8 semanas, R$ 5.000,00 por semana, 40 e mais o percentual de 8 a 10% do bruto da bilheteria, então quando eu tava nessa vida e, ao mesmo tempo levando a universidade, tocando a Unicamp, eu tava muito Fórmula 1, tinha que chegar na frente em tudo. Mas depois, com os anos de rolfing, porque no rolfing eu comecei a me entender com rolfistas em 86, mas só em 96 é que eu obtive a certificação avançada, eu levei 10 anos na formação, porque uma parte é formação em sala de aula, outra parte é trabalho clínico que você tem que relatar, apresentar os resultados. Então eu tive que receber gente, receber gente, receber gente, trabalhar com pessoas, por a mão, mexer, ouvir, orientar e, quando eu tinha, então, já, digamos um portfólio de atendimento de clientes, aí eu pleiteava mudar de estágio. Então você, num primeiro estágio, é ouvinte, no segundo você é praticante, no terceiro você é avançado e, se quiser continuar, eu que parei, de querer me interessar por continuar os estágios, que eu falei “tenho que curtir o momento da minha vida” eu tenho os meus netos, tudo crescendo, “vô, tô com saudade, vô, tô com saudade”, e eu aqui longe das crianças, longe de tudo, sozinho, nesse apartamento maravilhoso com o mar aqui do lado, do lado, aqui tô olhando pro mar, aqui, total, entende?
Silêncio absurdo, noite e dia, mas e o tempo não é, a idade, e o Cronos? Não posso ficar só no Kairós o tempo todo, entende? Então tem uma hora que eu digo “será que eu consigo montar uma peça?” Eu não sei. Agora estão me chamando para essas experiências aqui, fazer nesse formato online e não fala muito pro meu pau essa jogada, eu adoro manipular imagem, gente. Teve uma atriz recente do Rio que falou “não, a gente abre a câmera, você diz como que é o exercício que eu fico fazendo”. Ela quer fazer treinamento psicofísico por aqui sabe, eu falei “não, não, não dá, não é assim não, não dá por aí”. Eu sinto que ainda não dá, isso é uma coisa que eu não saberia fazer e também não sei com que tesão eu faria. Já, encontrar gente, falar “gente, vamos lá” e pegar na mão, montar e fazer, e até mexer com rolfing, tudo isso, daí eu acho factível, mas aí eu me sentiria à prova, eu não diria que eu estou assim nos meus melhores dias, eu acho que vocês estão conhecendo uma pessoa muito diferente do Celso Unicamp, muito, porque lá era 1980-90.
35 – 40 anos depois eu sou outra pessoa.
Mônica Sucupira: Celso, que texto você montou aí?
Celso Nunes: Eu montei, primeiro de tudo, um monólogo que eu tinha feito com Jandira Martini em São Paulo, se chamava Prof!, aqui chamava Animal. É uma glória de peça, uma glória, um texto glorioso que eu fiz, adaptei, tirei do papel masculino, porque é escrito por um ator, pra um ator, e adaptei para ser feito por uma atriz, fiz com a Jandira em 2013, eu fiz, com Jandira Martini. Depois, o outro texto que eu fiz, foi o texto… um inédito de uma autora carioca chamada Ângela Carneiro, e o texto dela se chama Como se fosse um crime, que é a história de uma mulher casada muito fiel à família, que resolve ter uma história fora de casa, então, lembra um pouco, assim, histórias dos romances da Doris Lessing, que é a mulher classe média que assume a sua identidade fêmea e resolve que ela não pode continuar na vida de mamãe, esposa, porque o prazer dela não está sendo contemplado, aí ela vai ao prazer e é o confronto entre a realização pessoal e o formal, a vida social etc. É linda a peça da Ângela. Chama Como se fosse um crime porque as trepadas que ela vai dar com o amante, deixando o marido, criança na escola, marido trabalhando, pra ela é um crime, ela sente que tá fazendo um crime, entende? E é uma peça que vai discutir isso, o adultério e os casamentos. E depois, a terceira peça, que é uma glória das glórias, essa daí dá até para fazer nesse formato, são 3 depoimentos que eu montei com a Julia Lemmertz em 2005 e chama, no original, Molly Sweeney, é uma peça irlandesa. Na montagem carioca chamava O rastro de luz, e aqui na Bahia chamou Vultos, porque a história é de uma cega que só vê vultos, de vez em quando ela vê uns vultos, então, é uma peça que mergulha no universo do cego e aí é a história dela e de uma tentativa de cirurgia para recuperar a visão e os depoimentos são dela, do marido dela, e do médico que fez a cirurgia, De novo é uma mulher com dois homens, como é a peça da Ângela, uma dona de casa com amante e marido. Aqui não tem negócio de amante e marido, mas tem marido e médico, e ela no meio da força masculina tentando mostrar que ela consegue ser feliz cega, e eles querendo que ela opere, porque o marido, se conseguir que ela opere, se livra do fardo de ter que cuidar dela a vida inteira, e o médico dá uma propulsão na carreira dele, porque seria um dos ,um milênios de caso, de alguém que, sendo cego desde a infância, passou a enxergar com 40 e tantos anos de idade. É uma glória, o texto é uma glória, o texto é uma coisa gloriosa, é glória pura.
Mônica Sucupira: Você fica muito entusiasmado quando fala de teatro.
Celso Nunes: Ah, com alguns textos eu fico. Eu fico “ah”. Sim, porque pra mim é muito essência, é muito energia, você entende? Não é teatro assim tem verba, não tem verba, esse teatro que a classe está brigando com o presidente, que é burro, que não enxerga a classe teatral, não, é outra coisa, passa por outro lado, não tem nada nada nada a ver com política cultural,
Mônica Sucupira: É uma experiência
Celso Nunes: É uma experiência de vida que não depende de nada, do dinheiro, não depende de nada, só depende de estar vivo e querendo. Não depende de mais nada.
Ana Célia Padovan: E coincidentemente os três têm a questão feminina, né? O feminino estar por trás é uma coisa que é forte.
Celso Nunes: Só pra dar a sinopse do Animal que eu não dei, que é o Prof!: é a história de uma pessoa, um homem, mas eu que transformei em uma mulher, que é professora de literatura, adora Literatura e não consegue passar para os alunos o amor que ela tem pela literatura e como a literatura é importante para pessoa, ela não consegue, os alunos não querem ouvir falar nisso, acham tudo um saco e ela fica descrevendo os alunos na classe, sem ânimo, caindo para cá, para lá, e ela leva isso durante vinte e tantos anos, tentando dar aula, tentando dar aula e vê que o marido dela canta no coro da ópera, anônimo, e não é nada, o que é uma pessoa que canta no canto da ópera? Ninguém vê, o público nem localiza aquela massa de voz lá no fundo, às vezes até na sombra. E o marido vive feliz porque canta, e ela, que gosta de Literatura e não consegue ensinar isso para ninguém, um dia ela pega todos os compêndios de literatura, tira da pasta, coloca uma submetralhadora, vai para a escola. Chegando na escola, abre a submetralhadora, tira e dizima a classe. Metralha todos.
Ana Célia Padovan: Que louco!
Celso Nunes: Muito, né? E aí, a peça, para abordar essa coisa do ensino hoje, se a escola existe, se é pra existir, em que nível a escola é reduto de traficante, de violência disfarçada porque “ah não, ela é professora, deixa entrar que é professora”, entende? Professora que apanha de aluno, professora que bate em aluno, então, tudo isso é discutido pelo texto e, aqui na Bahia, como tem muito um trabalho de periferia, então vem muitos professores dessa periferia muito pobre, quase miserável de Salvador, e eles ficavam maravilhados com a peça, funcionou muito bem aqui, muito, muito bem aqui.
Mônica Sucupira: Aonde que você faz as peças aí, Celso? É um teatro, uma comunidade?
Celso Nunes: Em salas daqui. Uma delas eu fiz numa sala chamada Gregório de Matos que é uma sala linda, que não é teatro, é uma sala de exposições e que ela foi reformada pela Lina Bo Bardi, teve uma fase da Lina Bo Bardi, que é a autora do famoso MASP lá de São Paulo, a Lina andou pela Bahia e fez alguns trabalhos de arquitetura muito bons aqui na Bahia, essa sala Gregório de Matos foi trabalhada por ela, eu fiz ali. Depois, no Teatro do Sesi eu fiz Como se fosse um crime, e no Teatro do Sesi eu fiz Vultos, então são salas daqui da cidade, modestas, não são, assim, salas incríveis.
Mônica Sucupira: Você tá fazendo teatro então.
Celso Nunes: É, então, isso que eu tô falando é de 2017, foi quando eu operei o ombro, eu operei em 17 o ombro e fiquei até o começo de 2019 sem poder usar esse braço aqui.Não, podia usar, mas não podia dirigir carro, tive que contratar uma pessoa para dirigir carro, eu não podia levar o carro, não podia, até hoje algumas coisas não posso fazer. Nadar crawl por exemplo ainda é difícil.
Mônica Sucupira: Por que que você mudou para Bahia?
Ana Célia Padovan: É, a Bahia tem um não sei quê mesmo?
Celso Nunes: Bom, primeiro foi a idade, eu não queria mais o frio, eu já tava morando há 16 anos em Florianópolis, na ilha, que é gelado. Aí tem uns meses de sol, mas mesmo durante o verão a água é gelada, então eu tinha uma paisagem maravilhosa, um lugar paradisíaco de olhar, mas frio, o tempo todo frio, e como para mim corpo é casa de alma, eu falava “eu quero morar num lugar que não tenha mais inverno”, então eu vim para Salvador porque eu não queria mais ter frio, não queria mais de jeito nenhum. Isso que eu tô aqui, para mim, é coisa de urso, não uso nada disso, eu vivo sem roupa nenhuma, dentro da minha casa é nú, nem cueca eu ponho, eu vivo nú aqui, a minha janela, se um dia vocês puderem olhar, não dá pra vocês verem agora, mas não tem prédio nenhum, ninguém olha aqui dentro, só quem passa voando, de vez em quando a Ivete Sangalo de helicóptero (risos).
Ana Célia Padovan: Tem drone agora hein Celso, cuidado com os drones.
Celso Nunes: É, agora tem drone, mas é aquela história da freira, você sabe, não sabe?
Ana Célia Padovan: Não
Celso Nunes: Do cara que tá fazendo xixi…A freira aparece, aí ele fala assim… como é que é que fala?Ah, fala assim: “quem nunca viu não sabe o que é”.
Carla Hossri: “Quem já viu não se admira”.
Celso Nunes: É, “quem já viu não se admira e quem nunca viu não sabe o que é”. Então, o drone pra mim, eu entro nessa (risos).
Se vocês forem ter um projeto de teatro, que seja alguma coisa completamente fora do padrão, aí eu posso pensar em, de alguma forma colaborar, não sei de dirigir alguma coisa, mas, colaborar, com certeza! Mas tem que ser algo que, porque essa coisa de pegar aquelas semanas e ensaiar de tal a tal hora, pôr a peça em cartaz, isso tudo para mim já tá tudo tão feito.
Carla Hossri: Celso, é meu sonho voltar a trabalhar com você, porque eu fiz aquelas aulas, a gente fez um semestre todo com você, foi um aprendizado de vida, né? Muitas coisas você falava que eu não me esqueço, uma delas é que você falava: “olha essas ‘arvrinhas’, arvorezinhas aqui, isso não é pra gente, isso é pra daqui 40-50 anos”. Você já visitou o departamento agora? Você viu o tamanho das árvores, que delícia? Estão lindas!
Celso Nunes: Eu fui quando o departamento fez uma festa de aniversário, acho que de quantos anos? 10 anos, 15 anos, que prepararam um bolo lá, teve um evento, eu fiz uma palestra lá no departamento.
Carla Hossri: Não, não sei dessa, vocês sabem meninas? Mas, olha, você tocou meu coração o tempo inteiro que você falou agora, eu matei um pouco da saudade, eu falo muito de você para todo mundo, para aluno etc., falo muito, e eu queria agradecer a sua generosidade, a sua alegria, o seu brilho quando você fala de teatro, quando você conta suas histórias, que é uma maneira também de alimentar a gente, sabe, a gente se alimenta e eu gosto muito, muito de você, quero trazer você mais pertinho de mim, verdade.
Celso Nunes: Vamos nessa, deixa eu dar uma resposta, eu tenho falado muito com a Fernanda Montenegro pelo whatsapp e ela tá com 91 anos, e ela tem isso que você falou a alegria, ela tem uma energia, é inacreditável com 91 anos, por causa do teatro, por causa do teatro, na essência do teatro nós existimos, nós estamos, quer dizer não existe assim a gente e o teatro, é uma coisa só, teatro e gente é uma coisa só, não é? Por isso que é difícil assistir teatro documentado, fica chato, porque fluxo energético do momento, então quando eu falo com Fernanda, ela tá adorando essa relação comigo porque ela elabora o pensamento e ninguém a interrompe, porque com 91 anos, quando você começa interromper, a pessoa pode perder o fio. E ela diz: “eu adoro, porque aí eu passo pra você meu pensamento e você não me responde, dali uma semana você vem com o teu pensamento”, então nós estamos nesse ping pong de velhos, mas que, quando falamos, é tipo assim, 4 anos de idade, 3 anos de idade a nossa, é muito legal isso, isso é tributo ao teatro não tem o quê… aonde você vai agradecer? Ou é Deus ou é teatro, pra quem você dá esse tributo? Ou é Deus ou é teatro, é junto, teatro e Deus é junto, religião, teatro nasce da religião, é religião. Nisso Zé Celso nunca errou, é religião, Zé Celso trabalha com essa certeza, tá certo.
Mônica Sucupira: É lindo, não tem palavras mais bonitas para gente encerrar do que essa: o teatro é religião, e a gente é o oficiante, né?
Celso Nunes: Exato, é isso. Somos oficiantes, você vê, para Antunes virou religião, pro Antunes não era, quando bateu, virou religião, não é?
Mônica Sucupira: Virou religião.
Celso Nunes: Pra Luís Otávio, que foi pego novinho, nunca deixou de ser, nunca deixou de ser. O tempo todo Luís Otávio era fiel a essa coisa da imersão em si, pra não voltar ao termo da auto penetração, é mergulho em si, mergulhar em si mesmo, esse é o termo brasileiro é esse mergulho em si mesmo, imersão tá muito na moda, mas é mergulhar em si mesmo, mergulhar, entender consigo mesmo para poder chegar íntegro, inteiro, no outro. Na verdade é pra isso, a gente faz esse mergulho de si, para si, por si, não, é pelo outro, para você chegar no outro, não tem porque ir outro com outra pessoa se você tem a sua, vai com ela, chega lá e, se a outra pessoa ainda não localizou isso, ajude-a a chegar nisso, nela, não chegar em você, chegar nela. Ninguém tem que chegar onde você está, a pessoa tem que chegar onde ela está, esta é a questão porque muita gente que ensina arte quer que a pessoa chegue onde ela está, o que implica em técnicas, em instrumentação adquirida, é outra história, mas para chegar onde ela está não precisa, ela tem que chegar onde ela está, não onde você está, pode acreditar, esse é o caminho.
Mônica Sucupira: Celso, a gente ficaria aqui a tarde inteira papeando
Celso Nunes: Eu também. Ainda mais porque eu vou desligar isso e vou cair nessa coisa erma e solitária. Não tem uma alma aqui, eu tenho que me alimentar em mim.
Mônica Sucupira: Ah, mas a gente vai ligar pra você toda hora agora.
Carla Hossri: Fala com a gente.
Celso Nunes: Liga mesmo.
Carla Hossri: Nós vamos adorar.
Celso Nunes: Tá bom, vou mandar fotos do contexto.
Carla Hossri: Manda.
Celso Nunes: Pra vocês entenderem onde que eu estou, não é? Quer ver? Não sei, nao sei se eu posso fazer isso… (mostrando a janela e o quarto) Dá pra ver uma cama?
Todas: Sim, dá
Celso Nunes: Eu durmo nessa cama aí. Eu tenho mesa de trabalho em frente à cama, no quarto.
Carla Hossri: Eu vou aí, hein? Vou dormir abraçadinha (risos)
Ana Célia Padovan: Mas o panorama do lado
(Celso mostra o mar da janela)
Celso Nunes: Tem mar, não tem?
Todas: Tem sim, lindo, lindo.
Celso Nunes: Vou postar pra Mônica pelo whatsapp umas fotos, umas fotos daqui.
Carla Hossri: Aí ela manda pra gente.
Celso Nunes: Porque ajuda vocês que falaram comigo, ajuda vocês a entenderem de que contexto brota a fala.
Todas: Sim.
Celso Nunes: Nunca, nunca, nunca esqueçam o seguinte… nunca! É que, na criação, Deus disse “faça a luz e a luz se fez”, o que que Deus fez? Deus disse “faça-se a luz”. Quer dizer, a palavra é anterior a luz, teatro!
Todas: Sim! é o teatro.
Mônica Sucupira: Olha, mil beijos pra você, mil beijos muito obrigada, carinho, afeto, agradecimento, que mais? Que você… Vamos ficar te chateando pra fazer um projeto com a gente, que mais? Ajuda aí meninas.
Carla Hossri: Ah, e que a gente não vai deixar você panguando aí sozinho não, viu? Que a gente vai entrar pelo seu mundo, pela internet.
Celso Nunes: Pela internet… em 2009 eu acabei de mudar pra cá, em 2009. Aí vieram duas atrizes de Santa Catarina e ficaram aqui morando aqui comigo, montamos As criadas de Jean Genet.
Todas: Ah, que legal! Que demais.
Celso Nunes: Em pleno carnaval, era janeiro e fevereiro de 2009, a gente montando aqui As criadas e depois fomos para Florianópolis estrear lá.
Carla Hossri: Ator e diretor adoram ensaiar no carnaval não sei por que, né? Diretor e ator, adoram.
(risos)
Celso Nunes: É, aqui é o circuito dos trios, trio elétrico é aqui nessa rua, então, tem dias que o barulho a partir das cinco da tarde é muito alto, o barulho, mas, de manhã até as três, quatro da tarde, aqui é bom pra trabalhar. Mesmo no carnaval. Pode vir rasgar fantasia aqui.
Mônica Sucupira: Eu acho que a gente vai pra aí então, tá?
(risos)
Mônica Sucupira: Eu vou te pedir um favor, eu vou parar com esse nosso papo, e eu queria que você deixasse um alô pro whatsapp da Unicamp, pode ser?
Celso Nunes: Como seria?
Carla Hossri: Como você é, espontâneo. Um recado.
Mônica Sucupira: Um beijo, um abraço, um carinho, sei lá.
Celso Nunes: Quer dizer por aqui ou desligando aqui e indo lá no whatsapp?
Mônica Sucupira: Pode ser agora, do jeito que tá.
Celso Nunes: É pra esse grupo?
Mônica Sucupira: É.
Celso Nunes: Unicampenses felizes?
Todas: É!
Celso Nunes: Unicampenses felizes, eu não conheço todos, mas vocês todos moram aqui (leva a câmera para o peito e manda um beijo)
Mônica Sucupira: Obrigada Celso, muito obrigada.
Ana Célia Padovan: Obrigada Celso.
(aplausos)
Celso Nunes: Aplausos, aplausos, espalhem aplausos.
Carla Hossri: Aplausos.
(aplausos)
Carla Hossri: Coração, eu odeio que façam assim, mas hoje tá impossível não fazer, né? Coração querido.
Todas: Beijos, obrigada.
Celso Nunes: Eu aperto aqui agora? Que eu faço, eu aperto?
Mônica Sucupira: Agora é só sair fora.
João Barim: É só apertar o “leave”.
(despedidas)